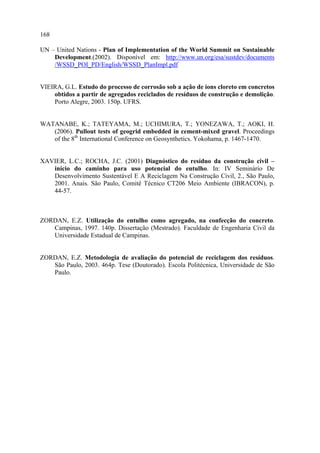Aplicação de resíduos de construção e demolição reciclados (rcd r) em estruturas de solo reforçado
- 1. Eder Carlos Guedes dos Santos Aplicação de resíduos de construção e demolição reciclados (RCD-R) em estruturas de solo reforçado. Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para a obtenção do Título de Mestre em Geotecnia. Orientador: Prof. Tit. Orencio Monje Vilar São Carlos 2007
- 2. ii
- 3. iii Dedico este trabalho a meus pais, Ivone e José Carlos, pelos seus exemplos; ao meu avô, José Viana Guedes (em memória), pelo seu entusiasmo; aos amigos que tenho, pela alegria de tê-los; e aos professores que tive até hoje, pela sorte de tê-los tido.
- 4. iv
- 5. v AGRADECIMENTOS Aos meus pais, Ivone Viana Guedes e José Carlos Ferreira dos Santos, por sempre me ensinar o valor da honestidade e da dignidade. À Shirley Mello, por ter sido minha incentivadora constante, pela sua cumplicidade, e pelo seu exemplo de mulher batalhadora. Ao meu irmão, Professor Carlos Santos, pelo seu exemplo de educação, determinação e coragem, pelo seu exemplo de Professor dedicado, correto e competente, e pela sua importante influência na minha vida. Ao meu orientador, Professor Orencio Monje Vilar, pela sua orientação, pela sua compreensão, pelos seus conselhos, pela sua paciência, e pelos ensinamentos sempre preenchidos com humor inteligente. Ao Professor Alexandre Duarte Gusmão, pela confiança depositada em mim, pelo seu notável exemplo de seriedade, competência e generosidade, e pelos seus conselhos valiosos para a minha formação profissional e pessoal.
- 6. vi Ao Professor Roberto Coutinho, pela sua admirável generosidade, demonstrada em todos os momentos em que precisei da sua ajuda, e pelos seus importantes conselhos. Ao Professor Nelson Aoki, pela sua extraordinária genialidade humilde, pelo seu exemplo de professor-cientista-engenheiro, pelo seu entusiasmo inabalável, pelos seus sábios conselhos, pelos momentos de convívio repletos de ensinamentos, e por ensinar-me a “dar nó em pingo d’água”. Aos amigos José Luís e Sílvio Wick, pela incondicional e fundamental ajuda demonstrada para a realização deste trabalho, pela convivência marcada por consideração, bom humor, engenhosidade e ensinamentos de vida. Digo que sempre tive a clara consciência de quando terminava a obrigação do “Técnico” e começava a atuação do “Amigo”, e por isso também serei eternamente grato. Aos amigos da EESC e de São Carlos: Clébio Coimbra Filho, pela sua sinceridade marcante; Isaura Regadas, pelo seu carinho autêntico; Leonardo Silveira, pela sua loucura congênita; Márcia Salatiel (Marcinha), pela sua delicadeza carinhosa; Ana Elisa e Luiz Guilherme, pelas conversas preciosas e pelos momentos memoráveis vividos em Analândia; Osvaldo Neto, pela
- 7. vii sua honradez exemplar; Simone Furegatti, pela sua franqueza admirável; Júlio Fialho, pela sua camaradagem baiana. Aos amigos: Rodrigo Menelau, pela sua personalidade sincera e cheia de “polêmicas”; Marcos Roberto Dubeux, pelo seu entusiasmo intrépido; Anderson Kildare, pelo seu senso de humor sagaz; Ricardo Vilaça, pela sua astúcia descontraída; Marcio Fideles, pelo seu exagero cômico; César Leal, pelo seu estímulo; Tiago Lamenha, pelas suas importantes palavras de incentivo; Fábio Lopes, pelo seu exemplo de bravura. Aos colegas da Geotecnia: Angelita Martins, pela sua simpatia generosa (desde o Geojovem 2004!); Iván Pehovaz, pela sua chatice e coração incomensuráveis; Josiele Patias, pela sua bondade despretensiosa; Arindam Basu, pela sua gentileza natural; Francis Kakuda, pela sua ajuda crucial; Giulliana Mondelli, pelos “EEERRR !!!”; Cléber de Assis, pelo seu caráter. Aos Professores da Geotecnia: Benedito Bueno, por disponibilizar todas as instalações do Laboratório de Geossintéticos para a realização dos ensaios com geogrelha, e pelas suas observações feitas durante o exame de qualificação; José Carlos Cintra, pela convivência repleta de ensinamentos; João Batista Nogueira, pelas conversas sempre esclarecedoras; Edmundo Esquível, por ser sempre atencioso; Osni Pejon, por disponibilizar
- 8. viii prontamente todo apoio necessário para a execução deste trabalho; Osvaldo Augusto Filho, por toda ajuda prestada (sempre com atitudes espirituosas). Ao Engenheiro Samir Fagury, pelas informações fornecidas sobre a Usina de Reciclagem de Entulho de São Carlos, e pelo total apoio dado para a coleta das amostras - questões fundamentais para a realização deste trabalho. Ao Engenheiro Sérgio Angulo, pela sua educação admirável e generosidade surpreendente. Aos funcionários da Geotecnia e da EESC: Maristela Batissaco, pela sua simpatia espontânea; Álvaro Nery, pela sua alegria contagiante; Cléber Valentim, pela sua competência notável; Benedito Souza (Dito), por toda ajuda realizada nos momentos difíceis; Herivelton Santos, pela sua educação exemplar; Antônio Garcia (Sr. Antônio), pela sua demonstração incansável de força de trabalho; Antônio Carriel (Toninho), pela sua honestidade; Daniel Pereira e Marcus Campos pela camaradagem e apoio oferecido; Antônio Gigante, pelo seu profissionalismo marcante; Hélio, pela sua ajuda paciente; Jorge Brabo (Jorjão), pela seu coleguismo apaziguado. Enfim, gostaria de agradecer a todos que pensaram e agiram de forma positiva para a realização desse sonho. Muito obrigado!
- 9. ix “Quando tenho um pouco de dinheiro, compro livros; se sobra algum, compro roupas e comida”. Erasmo de Rotterdam
- 10. x
- 11. xi SUMARIO AGRADECIMENTOS ............................................................................................v RESUMO ..............................................................................................................xv ABSTRACT ........................................................................................................xvii LISTA DE ILUSTRAÇÕES ................................................................................xix LISTA DE TABELAS ........................................................................................xxv LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS .................................xxvii CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO ..........................................................................31 CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................35 2.1 Resíduos de Construção e Demolição (RCD) .................................................35 2.1.1 Geração de RCD..................................................................................36 2.1.2 Quantificação dos RCD .......................................................................38 2.1.3 Composição e Variabilidade dos RCD................................................41 2.1.4 Impactos Ambientais gerados pelos RCD ...........................................43 2.1.5 Políticas Públicas sobre os RCD .........................................................46 2.1.5.1 Gerenciamento dos RCD .........................................................46 2.1.5.2 Legislação................................................................................50 2.2 Resíduos de Construção e Demolição Reciclados (RCD-R)...........................52 2.2.1 Reciclagem dos RCD ..........................................................................52 2.2.2 Usinas de Reciclagem de RCD no Brasil ............................................55 2.2.2.1 Usina de Reciclagem de RCD em São Carlos-SP ...................56 2.2.3 Processo de Beneficiamento do RCD..................................................59 2.2.3.1 Equipamentos utilizados..........................................................60 2.2.4 Composição, Características e Propriedades dos RCD-R. ..................62
- 12. xii 2.2.5 Aspectos Econômicos dos RCD-R ..................................................... 63 2.2.6 Aplicação dos RCD-R......................................................................... 67 2.3 Estruturas de Solo Reforçado.......................................................................... 69 2.3.1 Especificações Técnicas para os Materiais de Preenchimento em Estruturas de Solo Reforçado com Geogrelhas............................................ 73 2.3.2 Utilização de Diferentes Materiais como Aterro em Estruturas de Solo Reforçado com Geogrelhas.......................................................................... 76 2.3.3 Ensaios para Avaliação da Interação Solo-Reforço............................ 80 2.3.4 Fatores que Influenciam o Ensaio de Arrancamento .......................... 82 2.3.4.1 Rigidez do Topo da Caixa....................................................... 82 2.3.4.2 Rigidez da Parede Frontal da Caixa........................................ 83 2.3.4.3 Rugosidade da Parede Frontal da Caixa ................................. 83 2.3.4.4 Proximidade da Parede Frontal da Caixa................................ 85 2.3.4.5 Influência da Escala ................................................................ 86 2.3.4.6 Interferência entre os Elementos Transversais........................ 87 2.3.4.7 Espessura do Solo ................................................................... 91 2.3.4.8 Velocidade do Ensaio.............................................................. 92 2.3.4.9 Densidade do Solo .................................................................. 93 2.3.4.10 Tensão de Confinamento ...................................................... 94 2.3.4.11 Comprimento do Corpo-de-Prova vs. Tensão de Confinamento ............................................................................................................. 95 2.3.4.12 Extremidade Livre do Corpo-de-Prova................................. 96 2.3.4.13 Largura do Corpo-de-Prova .................................................. 97 2.3.5 Resistência dos Geossintéticos à Degradação..................................... 99 2.3.5.1 Danos de Instalação ................................................................ 99
- 13. xiii 2.3.5.2 Degradação Biológica .............................................................99 2.3.5.3 Degradação Química .............................................................100 CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS.....................................................103 3.1 MATERIAIS .................................................................................................104 3.1.1 Resíduos de Construção e Demolição Reciclados (RCD-R).............104 3.1.1.2 Coleta dos RCD-R .................................................................106 3.1.2 Outros Materiais Utilizados no Programa Experimental...................108 3.1.3 Geossintético .....................................................................................111 3.2 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADOS......................112 3.2.1 Equipamento de Cisalhamento Direto...............................................112 3.2.2 Equipamento de Ensaio de Arrancamento.........................................114 3.3 PROCEDIMENTOS DOS ENSAIOS...........................................................117 3.3.1 Cisalhamento Direto ..........................................................................117 3.3.2 Ensaio de Arrancamento....................................................................118 CAPÍTULO 4 – RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÕES.......................121 4.1 Caracterização ...............................................................................................121 4.1.1 Análise Granulométrica.....................................................................121 4.1.2 Limites de Consistência.....................................................................122 4.1.3 Massa Específica dos Sólidos............................................................122 4.2 Análise Visual com Microscópio Eletrônico.................................................123 4.2.1 Material Retido entre as Peneiras de 2,00 mm e 1,19 mm de Abertura ....................................................................................................................123 4.2.2 Material Passante na Peneira de 0,075 mm de Abertura. ..................125 4.3 Compactação .................................................................................................127 4.4 Efeito da Compactação na Granulometria das Amostras Ensaiadas .............128
- 14. xiv 4.5 Ensaio de CBR .............................................................................................. 131 4.6 Ensaios de pH................................................................................................ 132 4.7 Ensaio de Cisalhamento Direto..................................................................... 134 4.8 Ensaio de Arrancamento. .............................................................................. 136 4.8.1 Análise das Curvas Força X Deslocamento...................................... 136 4.8.1.1 Ensaios com 25 kPa de Sobrecarga. ..................................... 137 4.8.1.2 Ensaios com 50 kPa de Sobrecarga ...................................... 140 4.8.1.3 Ensaios com 100 kPa de Sobrecarga .................................... 144 4.8.2 Análise dos Coeficientes de Resistência de Interfase ....................... 146 4.8.3 Análise das Curvas dos Deslocamentos ao Longo da Geogrelha ..... 148 4.8.3.1 Ensaios com Areia ................................................................ 148 4.8.3.2 Ensaios com Solo .................................................................. 150 4.8.3.3 Ensaios com RCD ................................................................. 151 CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES........................................................................ 155 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 157
- 15. xv RESUMO SANTOS, E. C. G. (2007). Aplicação de resíduos de construção e demolição reciclados (RCD-R) em estruturas de solo reforçado. São Carlos. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 173 p. Resumo. O intenso crescimento populacional traz consigo uma preocupação ambiental, já que, diante da necessidade de exploração dos recursos naturais, a adoção de políticas de reciclagem faz-se fundamental para alcançar o desenvolvimento sustentável. Neste cenário, apesar dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) possuírem alto potencial de reciclagem, a estes sempre foi dispensado o tratamento de lixo. Além disso, os estudos realizados visando à reciclagem dos RCD mostram-se bastante concentrados na produção de agregados para a fabricação de concreto e para a aplicação em pavimentação. Diante disso, neste trabalho procurou-se definir uma nova aplicação para os Resíduos de Construção e Demolição Reciclados (RCD-R), buscando caracterizar suas propriedades geotécnicas como material de construção e verificando o seu desempenho como material de preenchimento de estruturas de solo reforçado. Ensaios de caracterização, de resistência ao cisalhamento e ensaios de arrancamento de geogrelha revelaram que o RCD-R apresentou baixos coeficientes de variação nas suas propriedades e excelente comportamento mecânico, o que justifica a sua utilização na aplicação proposta. Palavras-chave: resíduos de construção e demolição, reciclagem, solo reforçado, geogrelha.
- 16. xvi
- 17. xvii ABSTRACT SANTOS, E. C. G. (2007). Use of recycled construction and demolition wastes (RCDW) as backfill of reinforced soil structures. São Carlos. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 173 p. Abstract. The intense population growth brings some environmental concerns due to the need of exploitation of natural resources, and the adoption of recycling policies is basic principle to reach sustainable development. In this scenario, however, the high potential of recycling the construction and demolition wastes (CDW) has been ignored. Moreover, studies focus mainly on the recycling of CDW for the production of aggregates for use in pavements and concrete. The present study deals with a new application of the Recycled Construction and Demolition Waste (RCDW) as backfill of reinforced soil structures. Characterization, direct shear and pullout tests on geogrids has depicted that RCDW shows low coefficients of variation of its properties and excellent mechanical behavior that justify its use for proposed application. Key-words: construction and demolition wastes, recycling, reinforced soil structures, geogrid.
- 18. xviii
- 19. xix LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 1. Variabilidade de agregados de RCD reciclados na central piloto de Santo André, SP (JOHN & ANGULO, 2003). ..................................................................................42 Figura 2. Distribuição da composição do resíduo de construção e demolição de São Carlos/SP (PINTO, 1986) e Recife (SOUZA et al. 2004)....................................................... 43 Figura 3. Flagrante de disposição de resíduos não inertes em caçamba coletora de RCD.......44 Figura 4. Usina de Reciclagem de Entulho de São Carlos-SP ................................................. 56 Figura 5. Deposição irregular de RCD no bairro de Botafogo (São Carlos-SP). ..................... 57 Figura 6. Fluxograma do tratamento dado ao resíduo na URESC. .......................................... 58 Figura 7. Artefatos produzidos com o RCD-R beneficiado na URESC...................................59 Figura 8. Pavimentação realizada com artefatos produzidos com RCD-R beneficiado na URESC. .................................................................................................................. 59 Figura 9. Proporção aproximada entre agregados graúdos e miúdos de RCD reciclados (ANGULO & JOHN, 2004). ..................................................................................63 Figura 10. Ganho de valor das cinzas volantes conforme a aplicação do produto foi se consolidando e descobrindo os seus nichos de aplicações onde ela melhora as propriedades do concreto (CORNELISSEN, 1997 apud JOHN, 2000). ................66 Figura 11. Interação da geogrelha como solo envolvente (BENJAMIN, 2006). ..................... 71 Figura 12. Estrutura de solo reforçado com vegetação na face. ............................................... 71 Figura 13. Desenho de uma seção transversal de uma estrutura de solo reforçado. ................72 Figura 14. Primeira obra brasileira de porte de solo reforçado com geotêxtil (CARVALHO et al., 1986 apud PATIAS, 2005). .............................................................................. 73
- 20. xx Figura 15. Visão geral do histórico brasileiro na construção de muros e taludes reforçados: (a) Altura das estruturas; (b) Tipo de solo usado como aterro; e (c) Tipo de geossintético (BUENO et al., 2006)....................................................................... 78 Figura 16. Seção do talude reforçado em Bukit Batok, distrito de Singapura (Modificado de Lim et al., 2006)..................................................................................................... 79 Figura 17. Típico encontro de ponte com aterro de mistura pedregulho-cimento reforçado com geogrelha (AOKI et al., 2005 apud WATANABE et al.,2006). ............................ 80 Figura 18. Esquema ilustrativo dos ensaios de cisalhamento direto e de arrancamento (TEIXEIRA, 2003). ............................................................................................... 81 Figura 19. Efeito da condição do topo da caixa nos resultado do ensaio de arrancamento (PALMEIRA & MILLIGAN, 1989)...................................................................... 82 Figura 20. Influência da rugosidade da parede frontal nos resultados de ensaio de arrancamento (PALMEIRA & MILLIGAN, 1989)............................................... 84 Figura 21a. Efeito do comprimento da manga nos resultados do arrancamento: força de arrancamento (FARRAG et al., 1993). .................................................................. 85 Figura 21b. Efeito do comprimento da manga nos resultados do arrancamento: pressão lateral de terra na parede frontal (FARRAG et al., 1993)................................................. 86 Figura 22. Influência da escala nos resultados do ensaio de arrancamento (PALMEIRA & MILLIGAN, 1989). ............................................................................................... 87 Figura 23. Interação entre solo e elementos transversais: (a) interação solo-elemento transversal, (b) Redução da resistência passiva devido à região de solo fofo (PALMEIRA, 2004)............................................................................................... 88 Figura 24. Efeito dos elementos transversais durante o ensaio de arrancamento (DYER, 1985 apud PALMEIRA, 2004). ...................................................................................... 88
- 21. xxi Figura 25. Tensões normais localizadas na vizinhança de interface solo-geogrelha: (a) Usando células de tensão localizadas entre elementos longitudinais; (b) Usando células de tensão localizadas entre e diretamente sobre elementos longitudinais (Teixeira, 2007)....................................................................................................................... 89 Figura 26. Efeito do espaçamento dos elementos transversais na resistência ao arrancamento (Teixeira, 2007). ..................................................................................................... 90 Figura 27. Efeito da espessura de solo no resultado do ensaio de arrancamento (FARRAG et al., 1993)................................................................................................................. 91 Figura 28. Efeito da densidade no resultado do ensaio de arrancamento (FARRAG et al., 1993)....................................................................................................................... 94 Figura 29. Efeito da tensão de confinamento no resultado do ensaio de arrancamento (FARRAG et al., 1993). ......................................................................................... 95 Figura 30. Deslocamento ao longo dos corpos-de-prova: (a)LR = 1,15m; (b) LR = 0,40m (MORACI & RECALCATI, 2006). ....................................................................... 96 Figura 31. Influência do comprimento livre da grelha no resultado do ensaio de arrancamento: (a) Força de carregamento versus deslocamento, (b) deformação de tração ao longo do comprimento da grelha para um deslocamento de arrancamento de 41 mm (PALMEIRA, 2004)........................................................................................ 97 Figura 32. Mecanismo de interação desenvolvido no reforço durante o arrancamento: tensão cisalhante e deformação mobilizadas em (a) reforço largo e (b) reforço estreito; distribuição da tensão normal em (c) reforço largo, e (d) reforço estreito (ALFARO et al., 1995)........................................................................................... 98 Figura 33. Resultado de dois anos de monitoramento dos valores de pH entre blocos de concreto (Koerner et al., 2006)............................................................................. 102 Figura 34. RCD - Material “cinza”......................................................................................... 104
- 22. xxii Figura 35. RCD – Material “misto”. ...................................................................................... 105 Figura 36. RCD-R – “Bica-corrida”. ..................................................................................... 105 Figura 37. Coleta da amostra em lona plástica ...................................................................... 107 Figura 38. Coleta da amostra com pá-carregadeira................................................................ 107 Figura 39. Curva granulométrica do solo............................................................................... 109 Figura 40. Curva granulométrica da areia.............................................................................. 110 Figura 41. Amostra de RCD-R. ............................................................................................. 112 Figura 42. Caixa de cisalhamento instrumentada. ................................................................. 113 Figura 43. Equipamento de ensaio de arrancamento desenvolvido por Teixeira (1999)....... 114 Figura 44. Sistema de aplicação de força de tração: (1) Geogrelha; (2) Garra de fixação da geogrelha; (3) Célula de carga; (4) Barra de tração)............................................ 115 Figura 45. Pontos de leitura dos deslocamentos ao longo da geogrelha................................ 116 Figura 46. Instrumentação utilizada na medida dos deslocamentos. ..................................... 117 Figura 47. Curvas granulométricas obtidas para as amostras de RCD-R. ............................. 121 Figura 48. Variação dos coeficientes de variação do percentual passante em função das aberturas das peneiras. ......................................................................................... 122 Figura 49. Material retido entre as peneiras de 2,00 mm e 1,19 mm de abertura: (a) areia, (b) solo e (c) RCD-R................................................................................................ 125 Figura 50. Material passante na peneira de 0,075 mm: (a) areia, (b) solo e (c) RCD-R. ...... 126 Figura 51. Curvas de compactação das amostras de RCD-R................................................. 127 Figura 52. Efeito do ensaio de compactação (Proctor Normal) na granulometria da amostra RCD-R03. ............................................................................................................ 129 Figura 53. Efeito do ensaio de compactação (Proctor Normal) na granulometria da amostra RCD-R04. ............................................................................................................ 129
- 23. xxiii Figura 54. Efeito do ensaio de compactação (Proctor Normal) na granulometria da amostra RCD-R05. .............................................................................................................130 Figura 55. Resultado do ensaio de CBR simultâneo. ............................................................. 131 Figura 56a. Curvas Tensão x Deslocamento do ensaio de cisalhamento direto para RCD-R05. .............................................................................................................................. 134 Figura 56b. Curvas Deslocamento Vertical x Deslocamento Horizontal do ensaio de cisalhamento direto para RCD-R05...................................................................... 135 Figura 57. Obtenção da envoltória de resistência da amostra RCD-R05. .............................. 136 Figura 58. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para a areia aplicando-se uma sobrecarga de 25 kPa. ................................................................................... 137 Figura 59. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o solo aplicando-se uma sobrecarga de 25 kPa. ................................................................................... 138 Figura 60. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o RCD-R05 aplicando-se uma sobrecarga de 25 kPa. .............................................................. 139 Figura 61. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para a areia aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. ................................................................................... 140 Figura 62. Exumação da geogrelha submetida ao ensaio de arrancamento para a areia aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. .............................................................. 141 Figura 63. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o solo aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. ................................................................................... 142 Figura 64. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o RCD-R05 aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. .............................................................. 143 Figura 65. Ancoramento observado durante exumação da geogrelha submetida ao ensaio de arrancamento para o RCD-R05 aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. ........... 143
- 24. xxiv Figura 66. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para a areia aplicando-se uma sobrecarga de 100 kPa.................................................................................. 144 Figura 67. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o solo aplicando-se uma sobrecarga de 100 kPa.................................................................................. 145 Figura 68. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o RCD-R05 aplicando-se uma sobrecarga de 100 kPa. ........................................................... 145 Figura 69. Variação do Coeficiente de Interface em função da Tensão Normal aplicada..... 148 Figura 70a. Curva Deslocamento X Ponto de leitura na areia, para tensão de 25 kPa. ......... 149 Figura 70b. Curva Deslocamento X Ponto de Leitura na areia, para tensão de 50 kPa......... 149 Figura 70c. Curva Deslocamento X Ponto de leitura na areia, para tensão de 100 kPa. ....... 150 Figura 71a. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no solo, para tensão de 25 kPa. .......... 150 Figura 71b. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no solo, para tensão de 50 kPa........... 151 Figura 71c. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no solo, para tensão de 100 kPa. ........ 151 Figura 72a. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no RCD-R, para tensão de 25 kPa. .... 152 Figura 72b. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no RCD-R, para tensão de 50 kPa. .... 152 Figura 72c. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no RCD-R, para tensão de 100 kPa. .. 153
- 25. xxv LISTA DE TABELAS Tabela 1 – Percentual de RCD em relação ao RSU de algumas cidades brasileiras (Modificado de Vieira, 2003). ................................................................................ 39 Tabela 2 – Provável geração total de RCD de alguns municípios brasileiros e a geração per capita de entulho (XAVIER & ROCHA, 2001). .................................................... 40 Tabela 3 – Geração de resíduos em alguns países da União Européia (EC, 1999). ................. 40 Tabela 4 – Porcentagem de RCD reutilizado ou reciclado nos países da União Européia (EC, 1999)....................................................................................................................... 54 Tabela 5 – Características dos britadores utilizados na reciclagem de RCD. .......................... 61 Tabela 6 – Volumes de material escavado em alguns países da Comunidade Européia (EC, 1999)....................................................................................................................... 68 Tabela 7 – Principais tipos de geossintéticos e funções (a partir de Bueno e Vilar, 2004)...... 70 Tabela 8 – Categorias de estruturas dependendo da importância da existência de ruptura (BS 8006 – 1995).................................................................................................... 74 Tabela 9 – Seleção de solos para estruturas de solo reforçado (BS 8006 – 1995). .................. 75 Tabela 10 – Limites granulométricos recomendados para material de aterro em muro de solo reforçado (FHWA, 2001). ...................................................................................... 75 Tabela 11 – Limites granulométricos recomendados para material de aterro em taludes de solo reforçado (FHWA, 2001). ...................................................................................... 76 Tabela 12 – Dimensões propostas pela ASTM D6706-01 para o equipamento de arrancamento. ......................................................................................................... 92 Tabela 13 – Plano de coleta realizado. ................................................................................... 108 Tabela 14 – Principais parâmetros do solo............................................................................. 109 Tabela 15 – Principais parâmetros da areia. ........................................................................... 110
- 26. xxvi Tabela 16 – Propriedades mecânicas da geogrelha................................................................ 111 Tabela 17 – Propriedades físicas da geogrelha. ..................................................................... 111 Tabela 18 – Distâncias dos pontos de leitura em relação à manga. ....................................... 116 Tabela 19 – Critérios adotados para a compactação dos materiais durante o ensaio de arrancamento........................................................................................................ 119 Tabela 20 – Resultados encontrados no ensaio de massa específica dos sólidos. ................. 123 Tabela 21 – Resultados do ensaio de compactação. .............................................................. 128 Tabela 22 – Resultado do ensaio de CBR.............................................................................. 131 Tabela 23 – Resultados do ensaio de pH em água destilada.................................................. 132 Tabela 24 – Resultados do ensaio de pH em KCl 1M. .......................................................... 133 Tabela 25 – Resultados do ensaio de arrancamento com sobrecarga de 25 kPa. .................. 139 Tabela 26 – Resultados do ensaio de arrancamento com sobrecarga de 50 e 100 kPa.......... 146 Tabela 27 – Coeficientes de Resistência de Interface............................................................ 147
- 27. xxvii LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS A área plana de cisalhamento direto AASHTO American Association of Highway and Transportation Official ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas B diâmetro do elemento transversal BS British Standard c coesão do solo obtido em ensaio de cisalhamento direto CBR California Bearing Ratio CTT célula de tensão total Coef. coeficiente CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente CU ensaio triaxial adensado não drenado CV coeficiente de variação D85 diâmetro das partículas que, na curva granulométrica, corresponde à porcentagem que passa igual a 85% D MÁX diâmetro máximo das partículas EC European Commission eMÁX espaço de vazios máximos eMIN espaço de vazios mínimos EPA U. S. Environmental Protection Agency EUA Estados Unidos da América FHWA Federal Haghway Administration FY força na direção do eixo Y GC grau de compacidade da areia
- 28. xxviii GC grau de compactação em relação à Energia de Proctor Normal GG geogrelha IAC Instituto Agronômico de Campinas L largura do corpo-de-prova do reforço Le largura ao longo da extremidade do reforço influenciada pela dilatância restringida do solo LL limite de liquidez l0 comprimento livre de geogrelha Longit. longitudinal LP limite de plasticidade LS solo laterítico LVDT Linear Variable Differencial Trasformer NBR Norma Brasileira Registrada NW-GT geotêxtil não-tecido ONU Organização das Nações Unidas P carga aplicada PDE ponto de descarga de entulho PET poliéster pH potencial hidrogeniônico Prohab Progresso da Habitação de São Carlos PVC policloreto de vinila RCD resíduo de construção e demolição RCD-R resíduo de construção e demolição reciclado RSU resíduo sólido urbano S distância entre dois elementos transversais consecutivos
- 29. xxix SS solo saprolítico T espessura das camadas de solo Transv. transversal UN United Nations URESC Usina de Reciclagem de Entulho de São Carlos UU ensaio triaxial não adensado não drenado w teor de umidade W-GT geotêxtil tecido wot teor de umidade ótimo δ ângulo de atrito solo-reforço ε deformação δ ângulo de atrito solo-reforço δH deslocamento horizontal δt deslocamento total δV deslocamento vertical φ ângulo de atrito interno do solo f coeficiente de resistente de interface ρs massa específica dos sólidos ρd máx massa específica seca máxima σ tensão normal σn tensão normal σ'v tensão vertical efetiva σy tensão vertical τ tensão cisalhante
- 30. xxx τb tensão cisalhante média entre o solo e o reforço
- 31. 31 CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO Ao longo da história, a atividade humana tem transformado as paisagens naturais na busca da produção de materiais necessários para a sua sobrevivência, e, eventualmente, junto a essa transformação, há a geração de resíduos. Porém, após a Revolução Industrial, com o intenso crescimento populacional, o desenvolvimento econômico, a má administração do uso dos recursos naturais e a falta de consciência ecológica, os resíduos tornaram-se um sério problema urbano devido ao seu gerenciamento oneroso e complexo. Esse problema é caracterizado pela escassez de áreas de disposição, devido ao adensamento do perímetro urbano; altos custos sociais, provocados pela adoção de medidas ineficientes de gerenciamento; problemas no saneamento público e contaminação ambiental, gerados pela disposição irregular. Diante disso, apesar da atividade humana fazer parte do meio ambiente, a definição de limites torna-se necessária para evitar um entorno inabitável ou a extinção de outras espécies vivas. Reuniões de diversos países, como as que ocorreram em Estocolmo em 1972, no Rio de Janeiro em 1992 e em Johannesburgo em 2002, possibilitaram a institucionalização da temática ambiental em busca de regular a ação humana, formando uma ordem ambiental internacional (RIBERIRO, 2002). Em 1987, a Organização das Nações Unidas (ONU), através da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, produziu o relatório Nosso futuro comum (UN, 1987). Tal documento, mais conhecido como o Relatório de Bruntland, definiu o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo aquele “que satisfaça as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades”.
- 32. 32 Seguindo a recomendação da Comissão Mundial de Meio Ambiente de que fosse organizada uma reunião internacional para tratar dos problemas ambientais, foi realizada a Conferência das Nações Unidas para o Meio-Ambiente e Desenvolvimento (mais conhecida como Rio 92). Segundo Ribeiro (2002), na Rio 92 foi produzida a primeira versão de convenção sobre acesso e proteção à diversidade biológica. Porém, dez anos após a Rio 92, em Johannesburgo, a Conferência Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, em seu Plano de Implementação, destacou que “[...] a biodiversidade está desaparecendo em uma velocidade sem precedentes devido às atividades humanas” (UN, 2002). Nesse cenário, dentre as indústrias que degradam o meio ambiente, seja ele urbano ou natural, a indústria da construção destaca-se por ser responsável por números entre 20 e 50% do total de recursos naturais consumidos pela sociedade. Porém, não é só como consumidora de recursos naturais que a construção civil causa impactos ao meio ambiente, ela também é considerada a principal geradora de resíduos da economia. Em um levantamento realizado na cidade Santo André - SP, os resíduos de construção e demolição (RCD) aparecem como 58% do total em massa dos resíduos sólidos urbanos (RSU), com apenas 33% de participação dos resíduos domiciliares (PINTO, 1999). Existem ainda estimativas mais abrangentes a respeito da geração de RCD que afirmam que a geração per capita nacional pode ser estimada em 510 kg/hab/ano, pela mediana de algumas cidades brasileiras (PINTO, 1999). Como na maioria das cidades brasileiras não há áreas para a disposição final de RCD resíduos, aliado ao fato desses serem constituídos por materiais com um alto potencial de reciclagem (o que evitaria os impactos gerados na exploração de novas jazidas), faz-se necessário o estudo de soluções para a problemática ambiental, de forma a possibilitar o cumprimento da legislação vigente.
- 33. 33 Diante dessa expectativa, apresenta-se como um ponto positivo o fato da Engenharia oferecer, a cada dia, novos produtos e processos construtivos na busca de obras cada vez mais econômicas, arrojadas e que não agridam o meio ambiente. Neste contexto, os geossintéticos apresentam-se como um material possuidor de uma gama de aplicações, o que tem feito com que cada vez mais sejam estudados em diversas universidades e centros de pesquisa e aplicados em obras de engenharia, como por exemplo, nas estruturas de solo reforçado. Porém o benefício econômico das estruturas de solo reforçado, muitas vezes, fica limitado, principalmente pelas especificações de projeto quanto ao tipo de solo a ser utilizado na confecção das camadas do aterro reforçado. Nos países do Hemisfério Norte, solos arenosos são recomendados nas especificações de obras públicas. Como no Brasil não há especificações próprias, o emprego das recomendações de outros países, como as feitas pela British Standard (BS) (1995), Federal Highway Administration (FHWA) (2001) e American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) (2002), pode, em muitos locais, tornar inviável a execução deste tipo de obra pela falta de material específico próximo ao local da construção. Da conjugação dos fatores supracitados, surge uma interessante perspectiva que é a possibilidade de se utilizar resíduos de construção e demolição reciclados (RCD-R) como material de aterro em obras de solo reforçado. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo investigar o potencial de utilização de RCD-R como material de aterro em estruturas de solo reforçado através da realização de ensaios de caracterização, de resistência ao cisalhamento e de arrancamento de geogrelha com o RCD-R, e compará-los com os resultados obtidos com outros materiais.
- 34. 34
- 35. 35 CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 2.1 Resíduos de Construção e Demolição (RCD) A definição de RCD é motivo de discordância, não só em relação à abrangência das frações presentes, como também quanto às atividades geradoras dessas frações (ANGULO, 2000). Para a realização deste trabalho, adotou-se a definição da Resolução 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que diz: “Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha” A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da norma brasileira (NBR) 10004, classifica os diversos tipos de resíduos sólidos segundo os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública, visando o manuseio e destinação final dos resíduos sólidos. Segundo a NBR 10004, os RCD são classificados, na Classe II B – Inertes – e os definem como “quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor”. No entanto, um estudo realizado por Oliveira (2002) concluiu que os resíduos de concreto apresentam-se como “não inertes”, quando submetidos ao ataque de águas de chuva ácida. Verificou-se que os íons provenientes da decomposição desses resíduos presentes nas águas
- 36. 36 de chuva ácida contribuem para a mineralização dos cursos d’água que alteram as condições das águas naturais. Na Resolução 307 do CONAMA, os RCD são classificados em quatro classes, de acordo com as possibilidades de reciclagem (A, reutilizáveis ou recicláveis como agregados; B, recicláveis para outras destinações, tais como os plásticos; e C, sem tecnologia de reciclagem economicamente viável) ou periculosidade dos resíduos (Classe D). A Classe A é composta por materiais minerais como concretos, argamassas, tijolos e telhas cerâmicas, rochas naturais, solos entre outros (CONAMA, 2002), e esta, segundo Angulo et al. (2004) representa a maior fração dos resíduos gerados. 2.1.1 Geração de RCD Apesar de antiga, a indústria da construção civil ainda demonstra uma característica bastante peculiar guardando fortes traços artesanais, o que contribui para uma elevada geração de resíduos. Em linhas gerais, nesta atividade, os RCD são gerados em três etapas: durante a construção, a manutenção e a demolição. Em uma pesquisa realizada por Pinto (1989), comparando a massa estimada com a massa adquirida para a construção de uma obra de aproximadamente 3.650 m², o autor chegou à conclusão de que 20% (em massa) do material empregado foram desperdiçados. Segundo o autor, do material desperdiçado, aproximadamente a metade sai da obra em forma de entulho e a outra metade fica incorporada à obra. Ainda segundo o autor, este desperdício de materiais eleva o custo da edificação em aproximadamente 6 %. Vários trabalhos sobre a mensuração dos resíduos gerados na produção de edificações foram realizados no país (PINTO, 1989; PICCHI, 1993; SOIBELMAN, 1993; SANTOS, 1995; BOGADO, 1998) e no exterior.
- 37. 37 Para John e Agopyan (2000), a geração de resíduo na fase de manutenção está associada a vários fatores: • Correção de defeitos (patologias); • Reformas ou modernização do edifício ou de parte do mesmo, que normalmente exigem demolições parciais; • Descarte de componentes que tenham atingido o final da vida útil e por isso necessitam ser substituídos. John e Agopyan (2000) afirmam também que a redução na geração na geração de resíduos na fase de manutenção vai exigir: • Melhoria da qualidade da construção, de forma a reduzir a manutenção causada pela correção de defeitos; • Projetos flexíveis que permitam modificações substanciais nos edifícios através da desmontagem e a reutilização dos componentes não mais necessários; • Aumento da vida útil física dos diferentes componentes e da estrutura dos edifícios. Segundo Levy e Helene (2000 apud LEITE, 2001), num passado ainda não muito distante, muitas estruturas de concreto foram concebidas sem o conhecimento necessário sobre a sua durabilidade. Isto levou, e leva, ainda hoje, à redução da vida útil das estruturas, causando sério aumento no volume dos resíduos gerados. No caso dos resíduos de demolição, recentemente verificou-se um exemplo após a implosão, na cidade de São Paulo, do antigo complexo penitenciário do Carandiru. Foram gerados aproximadamente 60.000 m³ de resíduos, cujo tratamento e destinação foram motivos de intensas e incessantes discussões sobre a viabilidade e impacto ambiental. Os desastres naturais e as guerras constituem uma outra fonte geradora de RCD. Em 2004, um maremoto no Oceano Índico gerou uma onda gigantesca (tsunami), que atingiu 12 paises causando e a destruição de aproximadamente 400.000 casas (ONU, 2005). Mais de um ano
- 38. 38 após o terremoto que atingiu Los Angeles em janeiro de 1994, a cidade exibia uma quantidade de escombros que chegava a 3 milhões de toneladas. As autoridades locais, trabalhando com órgãos do governo e empresários locais, adotaram a reciclagem dos RCD como medida para a solução do problema. Em 1995, a United States Environmental Protection Agency (EPA), divulgou um guia para o planejamento de ações para o tratamento de escombros de desastres naturais (EPA, 1995). 2.1.2 Quantificação dos RCD Para a tarefa difícil de quantificar os RCD, há, pelo menos, segundo Pinto (1999), três formas que podem ser utilizadas: por área construída, pela movimentação de cargas em coletores e por monitoramento de descargas. Este última forma de quantificação é difícil de ser realizada, por causa da falta de uma fiscalização eficiente nos movimentos de massa dos RCD e a sua conseqüente “camuflagem” no ambiente urbano. Nos municípios pequenos, a falta de informações sobre a quantidade de RCD resulta em uma grande dificuldade no estudo desse material. Isso se deve ao fato dos planos diretores centralizarem suas ações no gerenciamento dos lixos domésticos, pois consideram esses predominantes no quadro de composição de resíduos sólidos urbanos (RSU). Dessa forma, os resíduos domiciliares são considerados críticos e a principal parcela para o esgotamento dos aterros (BORGES, 2000). Por outro lado, as cidades de médio e grande porte, costumam dar um tratamento mais elaborado a essas informações, talvez porque a presença dos RCD seja mais significativa nesses locais, chegando a representar 67% do total de massa dos RSU, conforme levantamento realizado por Leite (2001), na cidade de Ribeirão Preto/SP. A Tabela 1 apresenta o percentual de RCD em relação ao RSU de algumas cidades brasileiras.
- 39. 39 Tabela 1 – Percentual de RCD em relação ao RSU de algumas cidades brasileiras (Modificado de Vieira, 2003). População Geração de entulho % de RCD em Cidade (106 x habitantes) (ton/dia) relação ao RSU Salvador (1) 2,2 1700 37 Belo Horizonte (1) 2,01 1200 51 Maceió (2) 0,7 1100 45 Santo André/SP (1) 0,63 1013 58 S. José dos Campos (1) 0,5 733 65 Ribeirão Preto (1) 0,46 1043 67 (fonte: (1) Leite, 2001; (2) Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió – SLUM, 1997). As estimativas a respeito de geração de RCD afirmam que no Brasil a geração per capita é de 510 kg/hab/ano, pela mediana de algumas cidades brasileiras (PINTO, 1999). Para uma população de cerca de 140 milhões de pessoas vivendo em meio urbano, pode-se estimar uma geração de 70 milhões de toneladas por ano. A cidade de São Paulo apresenta uma geração de 16.000 t/dia, correspondendo a 499 kg/hab/ano (SCHNEIDER, 2003). Na Tabela 2, apresentam-se estimativas para a provável geração total de RCD de algumas cidades brasileiras e a sua geração per capita. Em outros países (Tabela 3) como, por exemplo, na Alemanha estima-se que são gerados cerca de 100 milhões de toneladas por ano; no Reino Unido, cerca de 67 milhões de toneladas por ano; e, na Bélgica, cerca de 34,6 milhões de toneladas por ano (EC, 1999). Nos Estados Unidos da América (EUA), segundo a agência ambiental americana, foram gerados aproximadamente 136 milhões de toneladas de RCD no ano de 1996 (EPA, 1998).
- 40. 40 Tabela 2 – Provável geração total de RCD de alguns municípios brasileiros e a geração per capita de entulho (XAVIER & ROCHA, 2001). Geração per Provável geração Municípios População Ano de pesquisa capita de RCD de RCD (t/dia) (kg/hab.dia) Santo André-SP 625.564 1997 1.013 1,61 São José dos 486.467 1995 733 1,51 Campos-SP Jundiaí-SP 293.373 1997 712 2,43 Vitória da 242.155 1998 310 1,28 Conquista-BA Campinas-SP 850.000 1993 1.258 1,48 Florianópolis-SC 285.281 2000 636 2,23 Tabela 3 – Geração de resíduos em alguns países da União Européia (EC, 1999). População em 1997 Geração de RCD Pais Ano (x 106 Habitantes) (x 106 Toneladas) Alemanha 1994-96 82 300 Reino Unido 1996 58,9 67 Holanda 1996 15,6 20,2 Bélgica 1990-92 10,2 34,6 Áustria 1997 8,1 26,4 Dinamarca 1996 5,3 10,7 Suécia 1996 8,8 5,9 Finlândia 1997 5,1 9,4 Irlanda 1995-97 3,7 1,9
- 41. 41 2.1.3 Composição e Variabilidade dos RCD Devido ao ritmo acelerado em busca de uma maior produtividade, o canteiro de obra é caracterizado por ser um ambiente dinâmico, sujeito a constante modificação em função do cronograma de execução de serviços. Diferentes atividades são realizadas concomitantemente, utilizando diferentes tecnologias e empregando materiais de diferentes naturezas. Isso contribui para que os RCD apresentem uma composição marcada por uma alta variabilidade e heterogeneidade. Os RCD podem ser compostos por componentes orgânicos como madeira, materiais betuminosos, plásticos, papéis, entre outros, e materiais inorgânicos como concreto, cerâmica, materiais metálicos, argamassas, e ainda por outros materiais que possam ser utilizados no canteiro de obra. Embora os resíduos de demolição sejam caracterizados por concretos e tijolos, com menos quantidade de aço, plástico e madeira, Angulo (2000) chama a atenção para o fato que esses resíduos possuem uma larga extensão de materiais, incluindo substâncias tóxicas em sua composição, tais como fenóis, sulfatos, metais pesados, que não devem passar, no entanto, de 1% da massa. Com relação a esse assunto, é importante lembrar que a ocorrência de desastres naturais pode contribuir para aumentar significativamente a quantidade de resíduos tóxicos além dos que são esperados na constituição do RCD. Materiais como solos argilosos, plásticos, resíduos de pavimentos betuminosos, madeira, gesso, refratários, vidros, metais, ou substâncias como: cloretos, álcalis e areias industriais quimicamente contaminadas são considerados impurezas e podem levar à conseqüências indesejáveis quando incorporadas aos agregados reciclados para produção de novos materiais (HANSEN,1992 apud LEITE, 2001). Usualmente, a caracterização dos RCD é realizada indicando a participação de diferentes fases de solo, rocha, concretos, argamassas, cerâmicas, gesso, madeira, plásticos, metais, entre
- 42. 42 outros materiais. Angulo (2000) estudou a variação da presença dessas fases nos agregados gerados pela instalação piloto de reciclagem de RCD de Santo André/SP, retirando amostra representativa de cada contêiner, que foi homogeneizada e quarteada. Como mostrado na Figura 1, a participação das diferentes fases varia acentuadamente de contêiner para contêiner, correspondendo ao que seria esperado para contêineres originados de vários canteiros, com diversas etapas de construção e com o emprego de diferentes processos de construção e demolição. Figura 1. Variabilidade de agregados de RCD reciclados na central piloto de Santo André, SP (JOHN & ANGULO, 2003). Segundo Angulo et al. (2005), apesar desta grande variabilidade, o RCD de Classe A (composto por rochas, solos, cerâmicas, concretos, argamassas, etc. sendo todos os materiais de origem mineral) representa em torno de 90% da massa do RCD no Brasil (BRITO, 1998), na Europa (EC, 2000) e em alguns países asiáticos (HUANG et al., 2002). Características regionais tais como fatores históricos, condições topográficas, panorama político e nível de desenvolvimento econômico, podem influenciar de forma significativa na variabilidade de composição dos RCD entre duas cidades. Como exemplo de tal variabilidade
- 43. 43 dos RCD, a Figura 2 apresenta a caracterização, com a distribuição da composição, dos RCD de duas cidades brasileiras: São Carlos/SP (PINTO, 1986) e Recife/PE (SOUZA et al., 2004). 100% 2,86 13 11,11 4,38 12 80% 17,98 22 Outros 60% Telhas, Lajotas, etc. Concreto % Areia 26 40% Tijolos maciços 63,67 Argamassa 20% 27 0% São Carlos/SP Recife/PE Cidades Figura 2. Distribuição da composição do resíduo de construção e demolição de São Carlos/SP (PINTO, 1986) e Recife (SOUZA et al. 2004). 2.1.4 Impactos Ambientais gerados pelos RCD A definição de Impacto Ambiental segundo a Resolução 01 do CONAMA é: “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais” (CONAMA, 1986).
- 44. 44 Os impactos negativos advindos da extração de matéria-prima para uso da construção civil são enormes. Vale ressaltar que a mineração e o processamento de minerais geram impactos com o desmatamento, a erosão do solo e a poluição do ar e da água. Conforme alerta John (2000), o setor da construção civil brasileiro consome, somente para a produção de concreto e argamassa, um valor estimado em 210 milhões de toneladas por ano de agregados naturais. Porém os impactos causados pelo setor da construção civil com a utilização de agregados naturais incluem a exploração descontrolada de recursos naturais não- renováveis, a fabricação de cimento e suas emissões de gás carbônico na atmosfera, e a poluição do ar gerada pelo transporte até os grandes centros. O RCD disposto inadequadamente polui o solo; deteriora a paisagem urbana; compromete o tráfego de pedestres e de veículos; danifica a drenagem urbana e constitui uma séria ameaça à saúde pública. Além disso, o acúmulo de RCD em local inadequado ou a sua disposição desprotegida atrai resíduos não inertes, oferecendo, simultaneamente, água, alimento e abrigo (Figura 3) para muitas espécies de vetores de patogênicos, tais como: ratos, baratas, moscas, vermes, bactérias, fungos e vírus (SCHNEIDER, 2003). Figura 3. Flagrante de disposição de resíduos não inertes em caçamba coletora de RCD.
- 45. 45 A pouca preocupação das autoridades e a falta de consciência ambiental da população com o destino do entulho gera “bota-fora” e aterros clandestinos, degradação de áreas urbanas e assoreamento de córregos em várias cidades brasileiras. Além disso, a falta de conhecimentos técnicos e a especulação imobiliária colaboram com o uso inadequado do RCD como material de aterro na recuperação de terrenos acidentados (SANTOS et al., 2004). A alta geração de RCD verificada nas cidades de médio e grande porte, e, conseqüentemente, o grande percentual no volume de RCD no volume total de RSU contribuem para acelerar da redução de vida útil dos aterros. Outro ponto, que também deve ser analisado, é a possibilidade dos aterros apresentarem problemas de lixiviação, podendo contaminar o lençol freático. Nos EUA, novas descobertas sobre a toxicidade de certos materiais de construção (como a madeira tratada) têm causado reivindicações de aumento na segurança e melhores salários para os trabalhadores nos aterros (ZORDAN, 1997). Uma ferramenta básica para a avaliação de impacto ambiental é a análise do ciclo de vida do produto utilizando a expressão do “berço ao túmulo” como forma de avaliação do impacto (SCHUURMANS-STEHMANN, 1994 apud ANGULO, 2000). Busca-se, dessa forma, analisar todas as etapas e impactos gerados desde a fabricação até o descarte final do produto. Tendo em vista que a geração de RCD é inevitável, seja devido aos desastres naturais ou à necessidade de modificação do ambiente, a definição de bases políticas e legais, capazes de proporcionar subsídios tecnológicos e econômicos para reverter o atual quadro de degradação ambiental e exploração descontrolada dos recursos naturais, são fatores essenciais para alcançar o desenvolvimento sustentável.
- 46. 46 2.1.5 Políticas Públicas sobre os RCD Os impactos ambientais, sociais e econômicos causados pelos RCD, demonstram, de forma clara, a necessidade da existência de políticas públicas que possam incentivar a redução da geração de resíduos, avaliar os impactos gerados e fornecer subsídios ao setor da construção civil, para que esse possa realizar um gerenciamento eficiente voltado para a uma postura ambientalmente correta. 2.1.5.1 Gerenciamento dos RCD Um fator que influencia diretamente a quantidade de resíduos gerados é o nível de desenvolvimento da cidade, pois esse reflete o grau de atividades econômicas e, conseqüentemente, os hábitos de consumo de sua população, os quais determinam o volume de bens adquiridos e serviços prestados, e, dessa forma, o volume de resíduos decorrentes destes. Sendo assim, como lembra Schneider (2003), é provável que os problemas mais intensos relacionados com a gestão de resíduos estejam concentrados nas vinte e seis regiões metropolitanas do país, onde vivem cerca de 40% da população brasileira, sessenta e nove milhões de habitantes. Dentre as estratégias possíveis de serem adotadas no enfrentamento dos problemas decorrentes da disposição irregular dos RCD, a gestão corretiva é marcada por englobar ações não-preventivas, repetitivas e custosas, que terminam em resultados não adequados (PINTO, 2001). Apesar de apresentar uma profunda ineficiência, a gestão corretiva é a principal estratégia adotada no tratamento dos problemas gerados pelo acumulo de RCD em áreas de domínio público (SCHNEIDER, 2003). Uma das ações utilizadas na gestão corretiva consiste na remoção dos RCD acumulados irregularmente, apesar desta ser caracterizada por onerar os cofres públicos. O setor de limpeza pública paulistano, por exemplo, é um mercado que consome uma fatia significativa
- 47. 47 do orçamento municipal, de 4% à 7%, cerca de quatrocentos milhões de reais por ano e atrai grandes grupos empresariais internacionais (SCHNEIDER, 2003). De acordo com Pinto (1999), estima-se que os custos variam entre US$54/ton e US$14,8/ton de RCD recolhido, para diferentes cidades e técnicas de recolhimento. Segundo Angulo et al. (2004), muitos países investem num sistema formal de gerenciamento do RCD, como Holanda, Reino Unido entre outros países europeus (HENDRIKS, 2000; EC, 2000; HOBBS & HURLEY, 2001). Estes sistemas visam reduzir a atratividade da disposição ilegal, principalmente viabilizando a redução das distâncias de transportes do RCD. Na cidade de Salvador/BA, em um trabalho realizado por Carneiro (2001), a implantação de Pontos de Descarga de Entulho (PDE) obteve resultados positivos na disposição irregular dos RCD. Os PDE, com limite de recepção diária de 2 m³ por transportador, mostraram-se uma importante ferramenta no processo de reciclagem funcionando como um elo entre o gerador e a usina de reciclagem (BARROS, 2005). Segundo proposta de Pinto (1999), o sucesso deste sistema exige a definição dos seguintes aspectos: a) constante incentivo à entrega voluntária dos resíduos, b) formalizar o papel dos pequenos coletores como agentes de limpeza urbana, c) planejamento da disposição geográfica das áreas de recolhimento, d) a participação das instituições locais como parceiros na busca da qualidade do ambiente, e e) a participação de agentes públicos locais, com a finalidade de orientar os processos, monitorar os resultados e consolidar a alteração de posturas necessária para a solução da gestão dos RCD. No entanto, verifica-se que a maioria dos relatos de instrumentos de política pública para a minimização dos RCD é implantada na etapa de demolição (SCHNEIDER, 2003), talvez por essa etapa ser a responsável por produzir grandes volumes de resíduos em um curto período de tempo necessário para tal geração.
- 48. 48 Em vários países, dentro do conjunto de políticas, os instrumentos econômicos se destacam com a adoção de taxas de deposição de RCD em aterros e a taxação de matérias primas provenientes da atividade de mineração. A taxa de deposição de RCD é amplamente utilizada em vários países europeus; tendo sua importância em função do grau de desenvolvimento do conjunto de políticas de cada país. Dessa forma, o valor difere muito entre os países. Por exemplo, enquanto na Inglaterra a taxa é de aproximadamente 3,2 Euros por tonelada, na Dinamarca alcança por volta de 50 Euros por tonelada (MURAKAMI et al., 2002 apud SCHNEIDER, 2003). É importante destacar que a adoção de taxas elevadas, visando desestimular este tipo de tratamento para os resíduos, pode contribuir para a elevação de deposição irregular, caso não seja instalado um eficiente sistema de fiscalização. A taxação de matérias-primas provenientes da atividade de mineração é também usada como forma de minimizar a exploração de recursos naturais e incentivar a utilização de produtos decorrentes da reciclagem dos RCD. Países europeus, como a Dinamarca, Finlândia, Suécia e Inglaterra, impõem taxas sobre a exploração de recursos naturais. No entanto, segundo Schneider (2003), apenas dois países relataram a existência de subsídios financeiros para unidades de tratamento de RCD. A Inglaterra subsidia a compra de equipamentos necessários para a instalação de unidades de tratamento de RCD e a Bélgica investe em companhias de reciclagem que processam RCD. Na cidade de Londres são adotadas medidas de incentivo à recuperação, reuso e reciclagem de materiais utilizados pelo setor da construção (SCHENINI et al., 2004). Essas medidas demonstram a necessidade da participação do poder público e da iniciativa privada no gerenciamento dos RCD. Algumas dessas iniciativas que se destacam são relacionadas a seguir:
- 49. 49 a. As construtoras pagam uma taxa por todo entulho gerado na obra, o que visa incentivar a não geração de resíduos e reduzir o desperdício e os impactos que seriam gerados pelos resíduos; b. A redução da taxa para as construtoras que realizam coleta seletiva dos RCD em suas obras; c. Alguns órgãos públicos pagam até 10% a mais para as construtoras que empreguem materiais reciclados; d. O incentivo do estado à máxima utilização de materiais de demolição. Um sistema de permuta é utilizado pelos construtores com a divulgação prévia de uma determinada demolição. Um tipo de classificado de materiais de demolição; e. Os arquitetos e engenheiros são estimulados a projetarem considerando uma vida útil de 100 ou 150 anos e prever o reaproveitamento das peças demolidas; f. Incentivo a utilização de agregados reciclados de concreto na produção de concretos de baixa resistência, sub-base de estradas, etc. No trabalho realizado por Pinto (1999), o autor propõe uma metodologia para a gestão diferenciada dos RCD como sendo a solução que objetiva remover os gestores de resíduos da posição de meros coadjuvantes de um processo perdulário e incontrolável. Segundo o autor, para a superação dos graves problemas detectados nos municípios brasileiros analisados e o controle dos resíduos de forma sustentável, algumas diretrizes constituem um útil e eficaz instrumental, sendo elas: (i) a ampla facilitação do descarte, (ii) a diferenciação integral dos resíduos captados e (iii) a adoção da reciclagem como forma de valorização de resíduos. Ainda segundo o autor, a adoção destas diretrizes, em um conjunto de ações, que também objetivem a minimização dos resíduos, a maior responsabilização dos geradores e a
- 50. 50 exploração de potencial da reciclagem como atividade econômica, permitirá iniciar o caminho rumo a um sistema de ciclo fechado para os materiais utilizados na construção civil. Em um trabalho realizado por Costa (2003) foi apresentado um panorama dos RCD e suas práticas de gestão. Segundo a autora, de forma geral, a principal forma de gerenciamento do resíduo continua sendo a disposição em aterros. No entanto, outras iniciativas estão sendo tomadas por vários países, como é o caso da desconstrução e reciclagem, dentre outras práticas. 2.1.5.2 Legislação O Japão adotou, a partir de 2002, um importante instrumento de política regulatória dos RCD desvinculada da taxação de aterros: as empresas de demolição são obrigadas, não apenas a separar as diferentes composições (madeiras, concreto, asfalto nas obras, etc.), mas também entregar esses materiais às unidades de reciclagem (MURAKAMI et al., 2002 apud SCHNEIDER et al., 2002). Vários congressos internacionais têm sido realizados tendo como principal tema a reutilização de resíduos. Entre encontros e congressos, cujo principal tema era a reutilização de resíduos, foram desenvolvidas as normalizações para a utilização agregados de RCD reciclados (VIEIRA, 2003). No Brasil, a legislação sobre os RCD ainda é pouco expressiva se comparada com as vigentes em outros países (ANGULO et al., 2001). No entanto, a resolução 307, de 05 de julho de 2002, do CONAMA, representa um marco neste sentido, pois regulamenta e vislumbra definições nos aspectos que tangem os RCD, atribui responsabilidades aos geradores, transportadores e gestores públicos sobre os RCD, e estabelece critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, assim como ações necessárias à minimização dos impactos ambientais. Essa resolução representa um instrumento legal
- 51. 51 importante para a promoção da reciclagem de RCD, pois, antes de sua publicação, não existia nenhum instrumento que regulamentasse a disposição dos RCD em âmbito nacional. Em 2004, foram publicadas as primeiras normas nacionais relacionadas aos RCD contidos na classe A, segundo a resolução 307 do CONAMA. As quatro especificações da ABNT tratam desde a disposição correta destes resíduos até a utilização de agregados reciclados de RCD em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural. Estas normas são: • NBR 15112 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação; • NBR 15113 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação; • NBR 15114 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Área de reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação; • NBR 15115 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos; • NBR 15116 – Agregados reciclados de resíduos da construção civil – Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos. Recentemente, uma importante iniciativa foi realizada na cidade de São Paulo, com a assinatura do decreto n° 4875/2006, que torna obrigatório o uso de material proveniente da reciclagem de RCD nas obras e serviço de pavimentação de vias públicas da capital paulista. O decreto prevê que em no máximo 180 dias, contados a partir da data de publicação do decreto, as contrações de tais serviços deverão contemplar em seus projetos, em caráter preferencial, o emprego de agregados reciclados. Após esse prazo, esses projetos deverão obrigatoriamente prever o uso de materiais reciclados.
- 52. 52 2.2 Resíduos de Construção e Demolição Reciclados (RCD-R) A indústria da Construção Civil apresenta um grande potencial com relação à reciclagem, podendo incorporar não só seus resíduos, como também os resíduos provenientes de outros setores da economia. Por exemplo, Oliveira e Holanda (2004) demonstraram claramente que o resíduo sólido de indústrias siderúrgicas pode ser perfeitamente reaproveitado como constituinte de massas cerâmicas para fabricação de produtos de cerâmica vermelha tais como tijolos maciços, blocos cerâmicos e telhas, empregados na construção civil. Moura et al. (2002), por sua vez, mostraram que o resíduo de corte de mármore e granito não apresenta riscos ambientais e que sua utilização, em até 10%, como agregado miúdo para argamassa de revestimento, é tecnicamente viável, bem como, na produção de lajotas para pisos. 2.2.1 Reciclagem dos RCD Apesar da reciclagem dos RCD ser considerado um assunto recente, sua prática já era realizada no império romano (753 a.C. a 476 d.C.) com a utilização de tijolos britados ou telhas em cacos, e outras pedras trituradas, em uma mistura com cal, água e areia, para a realização de suas construções (SANTOS, 1975 apud LIMA, 1999). No entanto, a utilização da reciclagem dos RCD de forma sistemática só se deu após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Estima-se que as cidades alemãs ficaram cobertas por um volume entre 400 e 600 milhões de metros cúbicos de escombros como conseqüência dos bombardeios. Diante do caráter necessário de reconstrução das cidades (com milhares de edifícios demolidos), e da evidente necessidade de destinação para as “montanhas” de escombros, junto com a carência de materiais de construção, fez-se fundamental o desenvolvimento de tecnologias voltadas para reciclagem dos RCD. Assim, no final de 1956, segundo Levy (2002), cerca de 85% do entulho da Segunda Grande Guerra havia sido removido e, em 1960, todo entulho proveniente da guerra havia sido reciclado na Alemanha.
- 53. 53 Pode-se dizer que a partir dessa época, ficou caracterizado o início do desenvolvimento da tecnologia da reciclagem dos RCD. No Brasil, conforme Angulo (2000), os primeiros estudos de resíduos aplicados à construção civil, assim como a sua reciclagem, devem-se a Cincotto (1983) e Pinto (1986). Diversas pesquisas sobre os RCD vêm sendo realizadas por diversas universidades e centros de pesquisas, na maior parte abordando sobre a reciclagem para a confecção de concreto e uso em pavimentação. Recentemente, novas propostas de uso foram realizadas com os trabalhos de Affonso (2005), investigando a possibilidade de uso em camadas drenantes de aterros de resíduos sólidos, e de Barros (2005), visando a utilização com material de cobertura. Comparativamente com os países do primeiro mundo, a reciclagem de RCD no Brasil é ainda tímida, com a possível exceção da intensa reciclagem praticada pelas indústrias de cimento e de aço (ANGULO et al., 2001). Segundo o trabalho realizado por Costa (2003), dos 64 municípios brasileiros com mais de 300 mil habitantes, apenas 12 possuem centrais de reciclagem para RCD; representando um número bem inferior ao apresentado pelos Estados Unidos, que possui cerca de 3500 unidades de reciclagem (EPA, 1998). Observando os percentuais de reutilização ou reciclagem nos países da União Européia (Tabela 4), verifica-se que, mesmo nos países de primeiro mundo, uma grande variação entre os percentuais. Segundo Dorsthorst e Hendriks (2000 apud ANGULO et al., 2001), esta variação é função da disponibilidade de recursos naturais, distância de transporte entre reciclados e materiais naturais, situação econômica e tecnológica do país e densidade populacional. Em um trabalho realizado por Costa (2003) foram efetuadas análises com o objetivo de identificar os fatores regionais presentes em cidades com e sem programas de reciclagem, com a finalidade de identificar, entre os vários fatores analisados, quais explicariam melhor as diferenças em os dois grupos de cidades. A autora conclui que os resultados, tanto da
- 54. 54 aplicação de análise discriminante, como da análise de clustrers, permitiram vislumbrar o cenário em que se encontram as cidades brasileiras diante de uma futura implantação de programas de reciclagem de RCD. Como lembra a autora, a possibilidade de ter esse cenário permitirá às prefeituras, empresas e órgãos ambientais direcionarem de forma mais adequada na busca de soluções para o problema dos RCD. Tabela 4 – Porcentagem de RCD reutilizado ou reciclado nos países da União Européia (EC, 1999). Porcentagem reutilizada País ou reciclada [%] Holanda 90 Bélgica 87 Dinamarca 81 Finlândia 45 Reino Unido 45 Áustria 41 Suécia 21 Alemanha 17 França 15 Itália 9 Espanha <5 Grécia <5 Irlanda <5 Portugal <5 Luxemburgo Não Disponível
- 55. 55 Ainda de acordo com Costa (2003), o método de análise revelou que as cidades mais propensas à reciclagem são as que apresentam melhores condições sócio-econômicas e administrativas. Assim, as cidades menos propensas são aquelas que apresentam condições precárias nos seus sistemas de saneamento básico, educação e no programa de coleta seletiva. Só após a solução desses problemas básicos, elas poderiam oferecer a infra-estrutura necessária para a implementação de programas de reciclagem de RCD. Finalmente, para Zordan (1997), “a reciclagem representa muito mais que uma maneira de diversificar e aumentar a oferta de materiais de construção, viabilizando eventualmente reduções de preço”. Segundo John (1996, apud ZORDAN, 1997), “ela pode gerar benefícios sociais adicionais, através de uma política habitacional, favorecida pela adoção de medidas de incentivo específicas para a produção de habitações de baixa renda, utilizando-se produtos reciclados de desempenho comprovado”. 2.2.2 Usinas de Reciclagem de RCD no Brasil Em novembro de 1991, foi inaugurada a primeira usina de reciclagem de entulho do Hemisfério Sul, localizada no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo: a Usina de Reciclagem de Entulho de Itatinga (ZORDAN, 1997). Erros de planejamento fizeram com que as primeiras usinas implantadas no Brasil, como a de Itatinga, na cidade de São Paulo, e a de Londrina, no Paraná, não tivessem os efeitos esperados, tornando-se ociosas em determinados momentos. Porém existem exemplos de sucesso, como o da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que, partindo de um planejamento minucioso, iniciou um programa de reciclagem de RCD, incluindo a instalação de 4 usinas de reciclagem e mais de 17 pontos de recepção, sempre próximos dos depósitos clandestinos (ZORDAN, 1997). No Brasil, atualmente, existem em torno de 12 instalações de reciclagem de RCD classe “A” públicas e algumas privadas com escala de produção pequena (menor que 100 toneladas
- 56. 56 de RCD processado/dia) (ANGULO et al., 2003). Não há reciclagem massiva no Brasil. O produto principal desta reciclagem é o agregado reciclado, destinado para usos como taludes, concretos magros de fundações, atividades de pavimentação entre outros (ANGULO et al., 2004). 2.2.2.1 Usina de Reciclagem de RCD em São Carlos-SP Instalada em outubro de 2005, a Usina de Reciclagem de Entulho de São Carlos (URESC), projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia e Progresso da Habitação de São Carlos (Prohab), foi o local de coleta das amostras que foram utilizadas neste trabalho (Figura 4). Figura 4. Usina de Reciclagem de Entulho de São Carlos-SP A usina foi instalada com a principal finalidade de acabar com a aglomeração RCD que ficavam depositados em córregos, nascentes e áreas verdes, além desta operação permitir a transformação de um enorme concentrado de RCD em agregados, que são utilizados na Fábrica de Artefatos de Cimento da Prohab.
- 57. 57 Na tentativa de evitar a clandestinidade, quando, na maioria das vezes, o RCD é retirado das construções civis e jogado em terrenos baldios, margens de rios ou locais periféricos, como os bairros Cidade Aracy II, Antenor Garcia e Botafogo (Figura 5), a Prohab formulou parcerias com várias empresas deste segmento, recebendo uma média de 20 caçambas por dia. Figura 5. Deposição irregular de RCD no bairro de Botafogo (São Carlos-SP). O material chega à usina e logo passa por um processo de triagem inicial, onde apenas os resíduos provenientes de construções demolidas são classificados conforme a sua composição (material cimentício ou material misto), para, posteriormente sofrer os processos de britagem e peneiramento. A Figura 6 apresenta o fluxograma do tratamento dado ao resíduo na URESC, desde a sua recepção até o produto final gerado. A usina possui capacidade de produção de triagem/britagem de 160 toneladas por dia.
- 58. 58 Figura 6. Fluxograma do tratamento dado ao resíduo na URESC. Através de um programa de sustentabilidade ambiental e social, o material após o beneficiamento é transferido para a fábrica da Prohab, que produz blocos, canaletas, pisos de concreto e sub-base para pavimentação (Figura 7). Além de preservar os rios e as áreas verdes do município, este projeto também apresenta características voltadas para o bem-estar social, pois os artefatos produzidos são destinados para as obras de conjuntos habitacionais e pavimentação dos loteamentos que envolvem a Prohab. Como principal exemplo, o bairro Santa Angelina foi pavimentado com pisos intertravados, proporcionando maior segurança, menos sujeira e um visual bem mais agradável aos moradores (Figura 8).
- 59. 59 Figura 7. Artefatos produzidos com o RCD-R beneficiado na URESC. Figura 8. Pavimentação realizada com artefatos produzidos com RCD-R beneficiado na URESC. 2.2.3 Processo de Beneficiamento do RCD. O processo de beneficiamento dos RCD envolve várias atividades. Inicia-se com a coleta do resíduo, seguindo-se o transporte até as centrais de reciclagem, a triagem, a britagem, o peneiramento, e termina com a estocagem.
- 60. 60 Na reciclagem da fração mineral dos RCD, deve-se atentar para a presença de materiais indesejados, podendo comprometer o uso do RCD-R em determinadas aplicações que exijam uma maior qualidade do material reciclado, tais com a produção de concretos e argamassa. Como exemplo, os teores de sulfato, oriundos dos componentes do gesso, devem ser controlados em diferentes estágios da britagem dos agregados. Apesar dos benefícios gerados pela reciclagem dos RCD, deve-se sempre atentar para o processo, pois a quantidade de materiais e energia necessários ao processo de reciclagem pode representar um grande impacto para o meio ambiente (ANGULO et al., 2001). 2.2.3.1 Equipamentos utilizados. De acordo com Angulo e John (2004), as centrais de reciclagem de resíduos de construção e demolição brasileiras são plantas simples, se comparadas com as centrais do exterior, possuindo apenas alimentador, britador, transportador de correia e eletroímã. Os procedimentos e equipamentos utilizados no beneficiamento afetam as principais características do RCD-R: classificação e composição; teor de impurezas; granulometria; forma e resistência (LIMA, 1999). A Tabela 5 apresenta as características dos britadores normalmente utilizados na reciclagem de RCD. Para eliminação dos materiais indesejados como materiais ferrosos, madeiras e plásticos, entre outros, podem ser utilizados os seguintes equipamentos: - Separador magnético, na remoção dos materiais ferrosos; - Tanques de depuração por flutuação, na separação dos plásticos e madeiras através da densidade; - Classificador por ar, separando densidades diferentes pelo escoamento de ar horizontal e vertical.
- 61. 61 Tabela 5 – Características dos britadores utilizados na reciclagem de RCD. Britador Características 1. Equipamento robusto, capaz de processar peças de concreto; 2. Alta redução das peças britadas, com boa geração de porcentagem de finos; De 3. Geração de grãos de forma cúbica, com boas características mecânicas; Impacto 4. Baixa emissão de ruídos; 5. Alto custo de manutenção (trocas periódicas de martelos e placas de impacto); 6. Fragmentação feita por colisão do material em placas fixas de impacto. 1. Alta geração de material graúdo, não reduz muito as dimensões dos grãos; 2. Geração de grãos lamelares, com tendência à baixa qualidade; 3. Dificuldade de britagem de peças armadas e peças de grandes dimensões; De 4. Alta emissão de ruídos; Mandíbula 5. Baixo custo de manutenção; 6. Ideal para britagem de rocha; 7. Fragmentação do material por compressão 1. Usado como britador secundário, por apresentar pouco espaço para entrada; De Martelo 2. Produz alta porcentagem de material miúdo; 3. Geralmente utilizado em conjunto com britadores de mandíbula; 4. Fragmentação do material parte por impacto e parte por atrito.
- 62. 62 2.2.4 Composição, Características e Propriedades dos RCD-R. Usualmente a caracterização da composição dos RCD é realizada pela triagem na fonte, seguido de um processo simplificado de catação visual das partículas. Porém, apesar do método ser barato e simples, este processo apresenta alguns problemas, tais como: a) a dificuldade de reprodução da técnica, b) a complexidade para diferenciação entre partículas cimentícias de argamassa e de concretos, c) a variabilidade de propriedades físicas de determinada espécies minerais, e d) a impossibilidade de se caracterizar agregados miúdos (ANGULO et al., 2004). Nas centrais de reciclagem, geralmente, os RCD-R são classificados em três tipos: a) cinza (com presença dominante de materiais cimentícios), b) vermelho (com presença dominante de materiais cerâmicos vermelhos), e c) mistos (com presença de diversas fases, tais como argamassa, cerâmica, cerâmica polida, materiais betuminosos, concreto, rochas, entre outros). A variabilidade verificada nos RCD-R é diferente da variabilidade apresentada pelos RCD, pois as composições apresentam-se diferentes antes e pós-benficiamento dos resíduos. Foi comprovado por Pinto (1986) que frações cerâmicas, anteriormente retidas em sua maioria em frações de malha de 25 mm, podem migrar em maior quantidade para as frações finas pós-britagem dependendo do equipamento. Como conseqüência da variabilidade apresentada na composição dos RCD-R, verifica-se uma alta variabilidade das suas características e propriedades, sendo estas influenciadas por vários fatores. Um exemplo é dado em Angulo (2000), segundo o autor, mesmo mantendo-se um mesmo equipamento com mesma regulagem, as curvas granulométricas dos agregados são influenciadas pela concentração das diferentes fases.
- 63. 63 Em um estudo realizado por Angulo e John (2004), com amostras coletadas de uma central de reciclagem piloto da cidade de Santo André/SP, durante 12 dias, espaçados dentro de um período de um mês, verificou-se que a geração de agregado miúdo chegou a ser duas a três vezes maior que a geração de agregados graúdos e apresentou valores variáveis ao longo dos dias, conforme apresenta a Figura 9. Segundo os autores, estes elevados teores de agregados miúdos podem estar relacionados com a natureza de resíduo (de demolição) e regulagem e tipo do equipamento de britagem utilizado no beneficiamento. Figura 9. Proporção aproximada entre agregados graúdos e miúdos de RCD reciclados (ANGULO & JOHN, 2004). 2.2.5 Aspectos Econômicos dos RCD-R Analisando o aspecto econômico, a reciclagem dos RCD apresenta-se como uma alternativa vantajosa por representar uma possibilidade de converter uma fonte de despesa para o setor público e para os construtores (gerenciamento dos resíduos, custos de transporte, taxas e multas) em uma fonte de faturamento e economia.
- 64. 64 No entanto, existem necessidades básicas para que um sistema de reciclagem seja realizado com sucesso, como, por exemplo, a existência de um mercado capaz de absorver o novo produto gerado. Como lembra Zordan (2003), pouco adiantaria o desenvolvimento de uma tecnologia ou uma simples idéia capaz de recuperar um resíduo ou encontrar para ele uma utilização, se ele não for absorvido pelo mercado e utilizado de forma eficiente. Uma demonstração da necessidade da criação de um mercado capaz de absorver a reciclagem dos RCD é comprovada através de dados de Pinto (1999) que mostram que o consumo de agregados pelas Prefeituras pode atingir cerca de 45% da massa total de RCD gerada na malha urbana. Dessa forma, uma reciclagem excedente de 45% do total dos RCD gerados somente seria viável se novos mercados fossem viabilizados. A abertura desses novos mercados é condição essencial para o surgimento de centrais de reciclagem privadas, pois a situação de ter os órgãos públicos como os únicos consumidores de agregado para base de pavimentação certamente eleva significativamente o risco de negócios privados nesta área (ANGULO & JOHN, 2002). Em vários países, a reciclagem é vista como um mercado altamente rentável pela iniciativa privada. Muitas empresas possuem equipamentos sofisticados para a separação dos materiais, o que acaba contribuindo com a qualidade do produto reciclado e a eficiência do sistema. Porém, é importante lembrar que os negócios privados de tratamento e reciclagem de resíduos funcionam nos países desenvolvidos, também porque eles estão amparados por legislações, fiscalizações e um poder judiciário eficiente (ZORDAN, 1997) Faz-se necessário, ainda, atentar para um ponto fundamental: a mera adoção de alternativas viáveis e interessantes em outros países podem não ser a solução para a situação nacional, tendo em vista que há diferenças importantes na tecnologia e nos processos construtivos utilizados, na resistência dos materiais especificados, e em dois pontos
- 65. 65 fundamentais: a economia e as condições de mercado. Sob este ponto de vista, de acordo com Angulo et al. (2002), é fundamental que essas diferenças sejam consideradas e que sejam exploradas sistematicamente as alternativas que o resíduo brasileiro oferece. O desenvolvimento de novos mercados exige ação multidisciplinar, desde as ciências ambientais até as ciências econômicas. A viabilidade de um determinado produto depende também da viabilidade econômica do processo de produção, da estratégia de marketing adotada, da adequação do produto às restrições técnicas e legais locais e da sua aceitação pela sociedade (JOHN & ANGULO, 2003). Um exemplo de ação técnica necessária é dado pelos estudos realizados buscando a utilização de agregados reciclados em concretos, a qual exige uma grande confiabilidade nas características dos agregados. Segundo Angulo et al. (2003), certamente o desenvolvimento deste mercado vai requerer melhorias na gestão do processo de reciclagem, nas ferramentas de controle de qualidade e na tecnologia de beneficiamento. No fato dos RCD serem gerados dentro das cidades pode existir uma grande vantagem competitiva dos agregados reciclados com relação aos naturais, os quais possuem suas jazidas cada vez mais distantes dos grandes centros. Estima-se que 2/3 dos custos dos agregados naturais são relativos às despesas de transporte (KULAIF, 2001 apud ANGULO et al. 2003). Mesmo assim, uma produção dos agregados de RCD em larga escala é necessária para que a operação seja lucrativa (ANGULO et al., 2003), exigindo assim uma análise criteriosa da viabilidade econômica. As pesquisas sobre o potencial de utilização dos RCD contribuem de forma crucial na consolidação de um novo produto no mercado a partir do momento que várias aplicações são descobertas. O baixo grau de valorização dos RCD reciclados verificado atualmente, segundo a literatura, é um fenômeno normal e aconteceu com outros materiais. Um exemplo é apresentado na Figura 10, que esquematiza a evolução de preço das cinzas volantes. À medida
- 66. 66 que novas aplicações foram desenvolvidas a valorização se deu desde um primeiro momento onde gerador pagava para os consumidores retirarem o produto, até atualmente, quando o produto é vendido. (JOHN & ANGULO, 2003). Figura 10. Ganho de valor das cinzas volantes conforme a aplicação do produto foi se consolidando e descobrindo os seus nichos de aplicações onde ela melhora as propriedades do concreto (CORNELISSEN, 1997 apud JOHN, 2000). Outra vantagem, que pode ser apresentada pelos RCD reciclados, consiste na utilização da sua contribuição ambiental como ferramenta de marketing, com os chamados “selos verdes”. Este aspecto deve ser explorado tendo em vista que há um consenso que o consumidor prefere produtos que causem menor impacto ambiental, desde que sejam mantidos o preço e qualidade. Em alguns países, os “selos verdes” para edificações incluem o uso de materiais reciclados em seus critérios e, em outros há também “selos verdes” para materiais de construção e produtos feitos com materiais reciclados (SCHNEIDER, 2003). Conclui-se que, apesar de todo potencial de apresentados pelos RCD para a reciclagem, este potencial não tem sido explorado no Brasil e que uma metodologia criteriosa e cautelosa é essencial para o desenvolvimento de um mercado efetivo para os RCD reciclados (JOHN et al., 2003).
- 67. 67 2.2.6 Aplicação dos RCD-R A aplicação de RCD-R como base de pavimentação é caracterizada por ser uma alternativa tecnologicamente consolidada. Porém dados nacionais demonstram que o setor de pavimentação sozinho seria incapaz de consumir integralmente o RCD-R produzido (ANGULO et al., 2002; PINTO, 1999). Por outro lado, a ênfase dada à reciclagem de RCD para produção de agregados para a fabricação de concreto não parece ser a mais adequada à realidade nacional, principalmente se adotados os critérios semelhantes aos propostos na normalização internacional (ANGULO & JOHN, 2002) e considerando os processos de produção de agregados utilizados nas centrais de reciclagem brasileiras. Verifica-se na literatura, apesar da grande quantidade de finos gerados nos processos de beneficiamento dos RCD, um destaque para a investigação do material graúdo através das suas propriedades para o uso como agregado. Esquece-se, no entanto, do potencial da fração fina para utilização em aplicações onde as exigências com relação aos materiais não são muito rígidas, tais como as exigências para os materiais de aterro. Uma primeira análise da aplicação de RCD-R em estruturas de contenção foi realizada por Lima (1999) baseando-se na possibilidade dos resíduos apresentarem resistência e dimensões necessárias para aplicação em rip-rap e gabião. Segundo o autor, para que o seu uso seja implementado, pesquisas e aplicações-piloto devem ser realizadas tendo em vista as sérias conseqüências que seriam geradas em eventuais falhas das construções. Atualmente, diversas universidades e centros de pesquisa têm realizado trabalhos buscando a utilização de RCD na fabricação de concreto e em pavimentação. Entretanto, apesar das importantes contribuições produzidas em tais pesquisas, deve-se atentar para o um ponto “chave”: o fato de que os resíduos “[...] resultantes da preparação e escavação de terrenos [...]” também são definidos como RCD, segundo a Resolução 307 do Conselho
- 68. 68 Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2002). Dessa forma, a quantidade de solo que compõem o montante de RCD gerados pode alcançar números bastante expressivos. A Tabela 6 apresenta os volumes de material escavado (solo, pedra, etc.) e suas participações na composição dos RCD de diferentes países da Comunidade Européia. Observa-se que, para os países analisados, a participação de tais materiais é expressiva e varia de 25 a 85%. Tabela 6 – Volumes de material escavado em alguns países da Comunidade Européia (EC, 1999). % de Materiais de Quantidade de Solo, Pedra, etc País Ano Escavação no RCD (106 x toneladas) (%) Alemanha 1994-96 215 72 Reino Unido 1996 29,5 44 Holanda 1996 6,3 31 Bélgica 1990-92 27 78 Áustria 1997 20 76 Dinamarca 1996 7,7 72 Suécia 1996 1,5 25 Finlândia 1997 8 85 Irlanda 1995-97 1,3 68 Portanto, diante da necessidade de desenvolvimento de aplicações que contribuam com o escoamento dos RCD-R, conjugado com o fato dos volumes de solos tratados nas usinas de reciclagem poderem atingir valores bastante expressivos, fica justificado, assim, o direcionamento de esforços em busca da aplicação dos RCD-R em obras geotécnicas.
- 69. 69 2.3 Estruturas de Solo Reforçado Desde os tempos mais remotos, o solo é, sem dúvida, o material mais utilizado pelo homem em suas construções. Porém, as características de resistência dos solos próximos às obras, nem sempre atendiam às necessárias para o suporte das construções a serem construídas. Dessa forma, desde a antiguidade, o homem tem utilizado a técnica de reforço de solo através da correção das características de resistência destes através da inclusão de materiais (raízes de árvores, telas de bambu, fibras de coco, etc.) com a função de elementos de reforço. Porém, pode-se dizer que a técnica de reforço de solo só alcançou uma condição industrial no início da década de 70, com a concepção da técnica “Terra Armada”, patenteada pelo arquiteto francês Henry Vidal. A técnica patenteada por Vidal consiste na execução de um maciço, com camadas de solo de boa qualidade, intercaladas por tiras metálicas estendidas entre as camadas do material e presas a painéis de concreto. O peso do solo contribui gerando uma resistência de atrito na superfície solo-tira, conferindo ao maciço um comportamento de um bloco monolítico. O desenvolvimento de materiais poliméricos, verificado nas últimas décadas, veio contribuir com a utilização desses como matéria-prima na fabricação elemento de reforço, os chamados “geossintéticos”. O termo “geossintético” resulta da junção do termo “geo” (termo grego que significa “terra”) com o termo “sintético” (referindo-se a utilização de material produzido artificialmente). Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na NBR 12553, geossintéticos são “produtos poliméricos (sintéticos ou naturais), industrializados, desenvolvidos para utilização em obras geotécnicas, desempenhando uma ou mais funções, dentre as quais destacam-se: reforço, filtração, drenagem, proteção, separação,
- 70. 70 impermeabilização e controle de erosão superficial”. A Tabela 7 apresenta vários tipos de geossintéticos e suas funções. Tabela 7 – Principais tipos de geossintéticos e funções (a partir de Bueno e Vilar, 2004). Função Geossintético Separação Proteção Drenagem Erosão Reforço Imperme- abilização Geotêxtil X X X X X X* Geogrelha X - - - X - Geomembrana X - - - - X Georrede - X X - - - Geocomposto - - - - - X argiloso Geocélula - X - X X - Geotubo - - X - - - Geofibras - - - - X - Legenda: Aplicável (X); Não se aplica (-); (*) Quando impregnado com material asfáltico. As geogrelhas são geossintéticos com estruturas planas em forma de grelha, em cujas aberturas se promovem o embricamento do solo, conforme ilustra a Figura 11. As geogrelhas são geralmente mais rígidas que os geotêxteis e, portanto, seu emprego é quase que exclusivamente para reforço, embora possam ser utilizadas em casos específicos como elemento de separação (BENJAMIN, 2006). As vantagens técnicas associadas ao emprego de estruturas de solo reforçado são muitas, podendo ser citadas, entre outras: é um método de construção simples e rápido, possibilita a construção de estruturas com inclinações acentuadas, não exige mão-de-obra especializada e equipamentos caros, necessita de pouco espaço em frente à estrutura para a
- 71. 71 operação de construção, permite maior tolerância com a deformação do solo de fundação, e possui diversas possibilidades para o acabamento da face. Figura 11. Interação da geogrelha como solo envolvente (BENJAMIN, 2006). A possibilidade de executar o plantio de vegetação na face da estrutura (Figura 12) permite a concepção de projetos em equilíbrio com a natureza, proporcionando, assim, um visual bem mais agradável. A Figura 13 apresenta uma seção transversal típica de estrutura de solo reforçado. Figura 12. Estrutura de solo reforçado com vegetação na face.
- 72. 72 Figura 13. Desenho de uma seção transversal de uma estrutura de solo reforçado. Além das vantagens técnicas, a determinação do custo completo para a sociedade de uma estrutura, segundo Jones (1994), pode ser identificada pelo estudo dos parâmetros ecológicos representados no ciclo de vida necessário para esta produção, incluindo a mineração da matéria-prima, processos, construção, parâmetros de uso e de manutenção, produção de resíduos e reciclagem. Em termos práticos, os parâmetros ecológicos associados com uma estrutura de solo reforçado são: i. Baixo teor de energia dos materiais que constituem a estrutura; ii. Pouca quantidade de água processada exigida para fabricar os materiais da estrutura; iii. O descarte de terra necessária para executar a obra; iv. Ausência de poluição durante a fabricação e construção; v. Baixos custos de fabricação dos materiais, transporte, construção e manutenção; vi. Simplificada demolição.
- 73. 73 2.3.1 Especificações Técnicas para os Materiais de Preenchimento em Estruturas de Solo Reforçado com Geogrelhas Os geossintéticos são utilizados no Brasil desde o início da década de 70 em sistemas de drenagem, e desde a década de 80 em estruturas de contenção. A Figura 14 apresenta a primeira obra de porte de solo reforçado com geotêxtil, executada em 1986, no km 35 da SP-123, rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão. Figura 14. Primeira obra brasileira de porte de solo reforçado com geotêxtil (CARVALHO et al., 1986 apud PATIAS, 2005). Em 2004, um importante avanço na divulgação das técnicas de uso dos geossintéticos foi realizado com a edição do Manual Brasileiro de Geossintéticos, a primeira obra dedicada exclusivamente ao tema no país. A obra aborda suas principais utilizações e especificações em obras de reforço de solos, filtração, drenagem, separação de materiais, proteção mecânica, adensamento de solos, filtração, restauração de pavimentos, erosão e impermeabilização. Porém, apesar desta consolidada experiência, não há no Brasil, até a presente data, uma diretriz normativa para projeto com o uso de geossintéticos em obras de solo reforçado. Diante disso, uma opção é consultar, atentando nas características dos solos brasileiros, as recomendações de outros países, como a British Standard (BS) (1995), Federal Highway Administration (FHWA) (2001) e American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) (2002).
- 74. 74 As recomendações dadas pela Norma Britânica BS 8006 (1995), atentam para os critérios mecânicos, químicos e eletroquímicos dos materiais a serem utilizados como materiais de preenchimento das estruturas de solo reforçado. Diante da resistência oferecida pelo solo, a sua utilização é categorizada conforme os diferentes tipos de obras, conforme apresentado na Tabela 8. Os critérios mecânicos são avaliados através do tipo de resistência apresentada pelo material a ser utilizado, classificando-a em dois tipos: (i) resistência de atrito e (ii) resistência coesiva. A Tabela 9 apresenta a seleção de solos para estruturas de solo reforçado. Para a execução de obras públicas, nos EUA são adotadas normalmente as recomendações dadas pela FHWA e AASHTO. A experiência americana na construção de estruturas de solo estabilizado mecanicamente tem levado a seleção de solos não coesivos como material de aterro. Tal especificação é fundamentada na exigência de um material que permita a livre drenagem, excelente interação com os elementos de reforço e possua comportamento de deformabilidade que garanta os critérios estabelecidos para os limites de utilização. Tabela 8 – Categorias de estruturas dependendo da importância da existência de ruptura (BS 8006 – 1995). Categoria Exemplo de estruturas Muros de contenção e taludes menores que 1,5 m, onde a ruptura 1 (Baixa) resultaria em danos mínimos e perda de acesso. Aterros e estruturas onde a ruptura resultaria em moderados e perda 2 (Média) de serviços Encontros de ponte, estruturas diretamente suportando auto-estradas, troco e principais estradas ou ferrovias ou construções habitáveis, 3 (Alta) barragens, muros e aterros em contatos com o mar, muros e aterros de contenção fluvial.
- 75. 75 Tabela 9 – Seleção de solos para estruturas de solo reforçado (BS 8006 – 1995). Categoria da estrutura Tipo de resistência do solo 1 2 3 Resistência de atrito X X X Resistência de atrito e coesão X X X Aterro de argila X - - Legenda: Aplicável (X); Não se aplica (-). Para a FHWA o material de aterro da zona reforçada deve estar livre de materiais orgânicos ou qualquer outro material deletério e deve atender aos limites granulométricos (Tabela 10) determinados pela AASHTO T-27. Tabela 10 – Limites granulométricos recomendados para material de aterro em muro de solo reforçado (FHWA, 2001). Tamanho da peneira % Passante 102 mm 100 0,42 mm (40) 0 a 60 0,075 mm (200) 0 a 15 O índice de plasticidade (IP) não deve exceder 6. Para a construção de taludes de solo reforçado, um material de aterro com maior percentual de finos pode ser usado, tendo em vista que esse tipo de construção possui face flexível e pode tolerar algumas distorções durante a construção. Mesmo assim, um material de boa qualidade, atendendo os requisitos apresentados na Tabela 11, é recomendado para facilitar a compactação e minimizar as exigências para o reforço.
- 76. 76 Tabela 11 – Limites granulométricos recomendados para material de aterro em taludes de solo reforçado (FHWA, 2001). Tamanho da peneira % Passante 20 mm* 100 4,76 mm 20 a 100 0,42 mm (40) 0 a 60 0,075 mm (200) 0 a 50 O índice de plasticidade (IP) não deve exceder 20. * O tamanho máximo pode ser aumentado (até 100 mm) desde que ensaios tenham sido ou sejam feitos para avaliar o potencial de redução de resistência devido danos de construção Segundo o manual da AASHTO (2002), os materiais de aterro devem ter capacidade de livre drenagem, não serem expansivos e/ou apresentarem potencial corrosivo. Siltes e argilas devem ser evitados na execução de aterros, a menos que procedimentos satisfatórios de projetos sejam seguidos e medidas mais rigorosas de controle da construção sejam incorporadas aos documentos do projeto e da execução (PATIAS, 2005). Diante destas recomendações, a execução de estruturas de solo reforçado pode tornar-se inviável pela falta de materiais específicos próximos ao local da construção. 2.3.2 Utilização de Diferentes Materiais como Aterro em Estruturas de Solo Reforçado com Geogrelhas. Embora as principais diretrizes para da execução de estruturas de solo reforçado recomendem a utilização de materiais granulares com alta capacidade de drenagem, é possível verificar ao redor do mundo a utilização de diferentes materiais como aterro em tais estruturas. A experiência brasileira com a execução de estruturas de solo reforçado, desde a década de 80, com a utilização de solos com um grande percentual de finos, tem demonstrado que
- 77. 77 tais estruturas apresentam um excelente comportamento. Uma avaliação do efeito de inclusões permeáveis e impermeáveis no desempenho de solos não convencionais reforçados, através da realização de ensaios de compressão triaxial rápidos (UU) e adensados rápidos (CU), foi realizada por Patias (2005). Tal estudo revelou que a combinação de solos finos com reforços permeáveis resultou em um ganho de resistência ora em termos de ângulo de atrito interno, ora em relação à coesão. Uma visão geral dos casos históricos brasileiros envolvendo a construção de muros e taludes reforçados usando solos de baixa permeabilidade é possível no trabalho de Bueno et al., (2006). Os autores organizaram as informações coletadas de trabalhos publicados em congressos brasileiros desde a década de 80; a Figura 15 apresenta tais informações organizadas em termos de: (a) altura da estrutura; (b) tipo de solo utilizado como aterro; e (c) tipo de geossintético utilizado. Verifica-se, na Figura 15, que as maiores ocorrências acontecem para construções com alturas inferiores a 5 metros, reforçadas com geotêxtil tecido, e, quanto ao tipo de solo, há um empate entre os solos lateríticos, saprolíticos e outros. Em Singapura, um aterro de solo reforçado com geossintético foi utilizado para recuperar uma ruptura de talude. A altura total do talude recuperado é de aproximadamente 21,5m e um solo local residual de baixa permeabilidade (teor de silte e argila de aproximadamente 45%) foi utilizado como material de aterro. Foi utilizado na obra um geossintético de alta resistência e alta permissividade, buscando fornecer, além da função de reforço, uma função de elemento drenante. Devido ao fato do talude localizar-se próximo a edifícios altos, uma extensa instrumentação foi instalada para monitorar não só o período de construção, como também a performance da obra a longo prazo. A Figura 16 apresenta a seção do talude reforçado.
- 78. 78 60 (a) % de ocorrência 40 20 0 <5 5 a 10 10 a 15 > 15 Altura (m ) 60 (b) % de ocorrência 40 20 0 LS SS Outros Tipo de solo: LS (Laterítico); SS (Saprolítico) 60 (c) % de ocorrência 40 20 0 NW-GT W-GT GG Tipo de Reforço: NW-GT (Geotêxtil Não-Tecido); W-GT (Geotêxtil Tecido); GG (Geogrelha) Figura 15. Visão geral do histórico brasileiro na construção de muros e taludes reforçados: (a) Altura das estruturas; (b) Tipo de solo usado como aterro; e (c) Tipo de geossintético (BUENO et al., 2006).
- 79. 79 Figura 16. Seção do talude reforçado em Bukit Batok, distrito de Singapura (Modificado de Lim et al., 2006). Os dados registrados nos dois últimos anos revelaram apenas a ocorrência de pequenas deformações. Mais informações sobre a obra e ensaios realizados em grande escala, buscando simular várias condições do material utilizado com aterro, podem ser encontrados em Lim et. al. (2006). No Japão, a mistura pedregulho-cimento é freqüentemente usada como material de aterro em importantes estruturas permanentes, tais como encontro de ponte para ferrovias. Exige-se dessas estruturas uma estabilidade suficientemente alta enquanto permitindo uma deformação limitada. A Figura 17 apresenta um desenho esquemático do primeiro encontro de ponte deste tipo para uma ferrovia do trem-bala construída em Kyushu. Uma grande vantagem desse tipo de encontro de ponte é o fato de ser muito estável contra carregamentos sísmicos (WATANABE et al. 2006).
- 80. 80 Figura 17. Típico encontro de ponte com aterro de mistura pedregulho-cimento reforçado com geogrelha (AOKI et al., 2005 apud WATANABE et al.,2006). 2.3.3 Ensaios para Avaliação da Interação Solo-Reforço Um dos maiores fatores que controlam o desempenho de uma estrutura de solo-reforçado é a interação entre o solo e o reforço. Dessa forma, o crescente uso de geossintéticos em solo reforçado leva a necessidade de desenvolver e padronizar métodos na avaliação das características mecânicas no solo e propriedades de interface desses materiais (FARRAG et al., 1993). Sendo assim, fica evidenciada a necessidade de: (i) projetar equipamentos de ensaios adequados, (ii) estabelecer diretrizes confiáveis e (iii) desenvolver planos de interpretação apropriados. Os dois ensaios mais comuns usados para medir a interação entre o solo e o reforço são os ensaios de cisalhamento direto e o de arrancamento (PALMEIRA & MILLIGAN, 1989; FARRAG et al., 1993). A Figura 18 apresenta os esquemas dos ensaios de cisalhamento direto e de arrancamento. Ensaios de cisalhamento direto e de arrancamento são ligados a diferentes procedimentos de ensaio, trajetórias de carregamento, mecanismos de ruptura, e condições de contorno. Conseqüentemente, os parâmetros de atrito de interface, normalmente expressados em termos
- 81. 81 de um relação de atrito, tan δ / tan φ (também chamado de fator de eficiência) onde δ é o ângulo de atrito de interface solo-reforço e φ é o ângulo de atrito do solo, obtidos de ambos os ensaios pode variar e freqüentemente fornecer resultados conflitantes (FARRAG et al., 1993). Figura 18. Esquema ilustrativo dos ensaios de cisalhamento direto e de arrancamento (TEIXEIRA, 2003). Há vários trabalhos publicados sobre a utilização de ensaio de cisalhamento direto no estudo de parâmetros da interface solo/geossintético (JEWELL & WROTH, 1987; LEE & MANJUNATH, 2000) e da interface geossintético/geossintético (TUPA & PALMEIRA, 1995). Em um recente trabalho, foi verificado por Silvano e Lopes (2006) que a aplicação de tensão vertical antes do início do deslocamento horizontal tem um importante papel no comportamento de interface do solo/geossintético em ensaios de cisalhamento direto. De acordo com Ochiai et al. (1996), em uma estrutura de solo reforçado, o efeito do reforço é mobilizar tensão de cisalhamento adicional no solo pelo surgimento de força de tensão na geogrelha. Sendo assim, o ensaio de arrancamento apresenta-se como o ensaio mais realístico em relação ao comportamento apresentado pelo reforço submetido a esforços de tração. Outro ponto importante é o fato de que comparando os resultados de ensaios de arrancamento de campo e de laboratório, a mobilização da resistência de arrancamento é semelhante para os dois. Diante disso, o ensaio de arrancamento de laboratório pode ser usado
- 82. 82 para os propósitos de não apenas tornar claro o mecanismo de resistência, mas também determinar os parâmetros para projeto e análises. (OCHIAI et al., 1996). No entanto, a complexidade de análise de resultados de ensaios de arrancamento, o tamanho do equipamento e as condições de contorno podem influenciar significativamente os resultados dos ensaios (PALMEIRA & MILLIGAN, 1989; PALMEIRA, 2004). 2.3.4 Fatores que Influenciam o Ensaio de Arrancamento 2.3.4.1 Rigidez do Topo da Caixa Para avaliar a influência da rigidez do topo da caixa de arrancamento, Palmeira e Milligan (1989) realizaram ensaios utilizando duas configurações para a aplicação da tensão vertical na caixa de arrancamento: (i) uma placa rugosa rígida; (ii) uma bolsa flexível cheia com água. Os resultados revelaram que uma leve diminuição no coeficiente de atrito foi obtida com a utilização da bolsa de flexível (Figura 19). Figura 19. Efeito da condição do topo da caixa nos resultado do ensaio de arrancamento (PALMEIRA & MILLIGAN, 1989).
- 83. 83 Tal resultado pode ser explicado pelo fato da bolsa flexível proporcionar uma distribuição mais homogênea e constante das sobrecargas aplicadas, o que contribui para evitar o surgimento de densificação localizada na camada de solo e, conseqüentemente, no aumento da tensão cisalhante em algumas regiões na interface solo-reforço. 2.3.4.2 Rigidez da Parede Frontal da Caixa Sugimoto et al., 2001, usando técnicas de raio-x, estudaram a influência da rigidez da parede frontal da caixa de arrancamento. Os autores encontraram que, para ambas as condições de contorno (flexível e rígida) na parede frontal, a rigidez da parede frontal influência a distribuição de deslocamento ao longo do comprimento do reforço e, portanto, a mobilização do mecanismo de interação. Com uma parede frontal flexível há uma distribuição uniforme dos mecanismos de interação ao longo do reforço, enquanto que com uma parede frontal rígida os mecanismos de interação (atrito de superfície entre o solo e a superfície sólida do reforço, e a resistência passiva, que se desenvolve contra os elementos transversais) ao longo do reforço não são uniformes. Este efeito é explicado por Sugimoto et al. (2001) como uma conseqüência do aumento local de densidade relativa do solo próximo à parede, causando uma descontinuidade imposta na área de deslocamento (parede rígida frontal), que no caso de paredes frontal flexíveis não é significante (MORACI & RECALCATI, 2006). 2.3.4.3 Rugosidade da Parede Frontal da Caixa Para esclarecer o grau de influência da rugosidade da parede frontal da caixa de arrancamento, Palmeira e Milligan (1989) realizaram ensaios utilizando quatro condições de rugosidade; da mais rugosa para a menos rugosa, foram elas:
- 84. 84 (i) Parede frontal com areia colada (parede rugosa); (ii) Parede frontal com lixa colada; (iii) Parede frontal sem modificações (metal plano); (iv) Parede frontal com duas camadas de polietileno intercaladas com graxa (parede lubrificada); Para cada uma destas condições, o ângulo de atrito foi determinado com a carga de pico em ensaio de cisalhamento com areia na parte superior da caixa, um bloco rígido na parte inferior da caixa, e com a interface coincidindo com o plano central de cisalhamento. Na Figura 20 a variação da tensão de aderência normalizada com o deslocamento de arrancamento é apresentada para cada ensaio. Figura 20. Influência da rugosidade da parede frontal nos resultados de ensaio de arrancamento (PALMEIRA & MILLIGAN, 1989). Diante da influência da parede frontal nos resultados do ensaio, algumas medidas são recomendadas (PALMEIRA & MILLIGAN, 1989; FARRAG et al., 1993): (i) lubrificar a parede frontal; (ii) transferir o ponto de aplicação da força de arrancamento para um ponto distante da parede frontal.
- 85. 85 2.3.4.4 Proximidade da Parede Frontal da Caixa A interação entre o sistema solo-inclusão e a parede frontal rígida da caixa de arrancamento pode afetar a resistência de arrancamento medida. Isso se deve ao fato do reforço, ao ser arrancado da caixa, gerar uma pressão de terra contra a face frontal rígida e resulta em um aparente aumento na resistência de arrancamento da geogrelha (FARRAG et al., 1993). Este efeito pode ser minimizado através da instalação de uma manga ao redor da ranhura da caixa (destinada à passagem do geossintético), a qual tem a função de transferir o ponto de aplicação da força de arrancamento para um ponto distante da parede rígida frontal. Farrag et al. (1993), utilizando diferentes comprimentos de manga e realizando as medidas das tensões de desenvolvidas através de células de carga fixadas na parede frontal da caixa, chegaram aos resultados apresentados nas Figuras 21a e 21b. Figura 21a. Efeito do comprimento da manga nos resultados do arrancamento: força de arrancamento (FARRAG et al., 1993).
- 86. 86 Figura 21b. Efeito do comprimento da manga nos resultados do arrancamento: pressão lateral de terra na parede frontal (FARRAG et al., 1993). A conclusão de Farrag et al., (1993) é que o efeito da parede frontal rígida é mínimo quando uma manga de pelo menos 30 cm é usada. 2.3.4.5 Influência da Escala Ensaiando o arrancamento de geogrelhas em areia, Palmeira e Milligan (1989) verificaram a influência da relação entre a distância (S) e o diâmetro (B) dos elementos transversais. Na Figura 22 pode-se verificar que para baixos valores de S/B reduções mais severas na tensão de cisalhamento ocorrem após o pico, enquanto que para grelha nº 8 nenhum pico é observado devido a sua alta relação espaço/diâmetro (S/B=31).
- 87. 87 Figura 22. Influência da escala nos resultados do ensaio de arrancamento (PALMEIRA & MILLIGAN, 1989). 2.3.4.6 Interferência entre os Elementos Transversais Palmeira (2004) assinala que a interferência entre os elementos transversais ocorre principalmente devido a dois principais mecanismos: (i) o aumento na magnitude das tensões e a rotação das tensões principais à frente dos membros devido à mobilização da resistência passiva do solo; e (ii) a formação de uma região de baixa tensão atrás de cada membro que é movido por uma força de arrancamento, o que vai afetar a resposta e resistência passiva final dos elementos transversais seguinte. A Figura 23 mostra o esquema deste mecanismo. Um estudo fotoelástico de interação entre geogrelhas e vidro esmagado, conduzido por Dyer (1985 apud PALMEIRA, 2004), mostrou que um elemento transversal de geogrelha individual altera o estado de tensão atrás dele e, dessa forma, altera a distribuição de tensão causada pelos membros seguintes (Figura 24).
- 88. 88 Figura 23. Interação entre solo e elementos transversais: (a) interação solo-elemento transversal, (b) Redução da resistência passiva devido à região de solo fofo (PALMEIRA, 2004). Elemento transversal Figura 24. Efeito dos elementos transversais durante o ensaio de arrancamento (DYER, 1985 apud PALMEIRA, 2004). Teixeira et al. (2007), através da instalação de células de tensão total no meio e sobre elementos transversais de uma geogrelha, mediram a oscilação dos valores tensões normais
- 89. 89 desenvolvidas durante o ensaio de arrancamento (Figura 25a). Ainda no mesmo trabalho, o autor, ao dispor células de tensão total entre e alinhada com elementos longitudinais, observou um decréscimo relativo nas tensões normais localizadas ao longo do elemento longitudinal (Figura 25b). Tal constatação sugere que a presença dos elementos transversais não só induz o surgimento de regiões de variação de tensões, mas também é responsável por um efeito prejudicial na componente da resistência de interface que se desenvolve ao longo dos elementos longitudinais. Figura 25. Tensões normais localizadas na vizinhança de interface solo-geogrelha: (a) Usando células de tensão localizadas entre elementos longitudinais; (b) Usando células de tensão localizadas entre e diretamente sobre elementos longitudinais (Teixeira, 2007). Após realizarem uma série de testes em que os tamanhos das partículas de solo e as dimensões da geogrelha foram variados, Palmeira e Milligan (1989) chegaram à conclusão
- 90. 90 que os principais fatores que controlam a interferência entre elementos transversais de uma geogrelha provavelmente são as propriedades do solo (incluindo forma das partículas e características de superfície) e o diâmetro, espaço e número dos elementos transversais. Buscando investigar o efeito do espaço entre os elementos transversais de geogrelhas, Teixeira et al. (2007) sugerem a existência de um espaçamento ótimo, que maximiza o valor da resistência ao arrancamento. Dessa forma, quando o valor do espaçamento é inferior ao valor ótimo, a força de arrancamento seria prejudicialmente afetada pelo efeito que os elementos transversais causam na componente de resistência de interface. Por outro lado, quando o valor do espaçamento é superior ao valor ótimo, a resistência é reduzida comparativamente devido ao pequeno número de elementos transversais, os quais são responsáveis pela contribuição da componente de resistência passiva ao valor total da resistência ao arrancamento. A Figura 26 apresenta o efeito do espaçamento dos elementos transversais na resistência ao arrancamento encontrado por Teixeira (2007), para as suas condições de ensaio. Figura 26. Efeito do espaçamento dos elementos transversais na resistência ao arrancamento (Teixeira, 2007). Em Palmeira (2004), um modelo teórico incorporando a influência da interferência entre os elementos transversais foi apresentado e provou ser uma útil ferramenta para a
- 91. 91 interpretação de resultados de ensaios de arrancamento. O uso do modelo para uma grelha hipotética mostrou a influência de fatores tais como comprimento livre da grelha e a velocidade de ensaio na resposta ao arrancamento de grelhas extensíveis. 2.3.4.7 Espessura do Solo De acordo com Farrag et al. (1993), durante o ensaio de arrancamento, os contornos rígidos sobre e abaixo do reforço podem afetar o mecanismo de interação entre o solo e a geogrelha. Um aumento das tensões normais nas regiões envolta da superfície da grelha pode ser gerado, especialmente quando a espessura do solo é pequena e a dilatância do solo é contida. Além disso, algum atrito pode se desenvolver entre o solo e o fundo rígido inferior da caixa, o que pode afetar a tensão de cisalhamento mobilizada na interface solo-reforço. Resultados de Farrag et al. (1993), apresentados na Figura 27, sugerem que uma espessura de solo de pelo menos 30 cm acima e abaixo do reforço (uma altura total de 60 cm de solo) seja necessária para areias uniformes a fim de eliminar o efeito de borda e confinamento na resposta do arrancamento. Figura 27. Efeito da espessura de solo no resultado do ensaio de arrancamento (FARRAG et al., 1993). A American Society for Testing and Materials, através da ASTM D6706-01, propõe que as dimensões do equipamento para a realização do ensaio de arrancamento devam atender aos
- 92. 92 valores mínimos apresentados na Tabela 12; se necessário, essas devem ser aumentadas para atender as relações com os materiais a serem ensaiados (Tabela 12). Tabela 12 – Dimensões propostas pela ASTM D6706-01 para o equipamento de arrancamento. Valor Mínimo Dimensão Dimensão vs. Material (mm) ≥ 20 × D85 do solo Comprimento 610 ≥ 6 × DMáx do solo 5 × Máxima abertura do Largura 460 geossintético ≥ 6 × D85 do solo Profundidade 305 ≥ 3 × DMáx do solo 2.3.4.8 Velocidade do Ensaio Buscando investigar a influência da velocidade do ensaio na resposta ao arrancamento de geogrelhas, Farrag et al. (1993) realizaram ensaios sob quatro diferentes velocidade de deslocamento no arrancamento (2mm/min, 6 mm/min, 10 mm/min, e 20 mm/min), utilizando uma areia mal graduada. Verificou-se que um aumento na velocidade de ensaio de 2 mm/min para 20 mm/min resulta em uma redução de 25% na resistência de arrancamento de pico. Segundo os autores, velocidades de deslocamento mais altas afetam tanto a força de arrancamento quanto a distribuição de deslocamento ao longo do reforço. Segundo os autores, os efeitos da velocidade de ensaio são minimizados se velocidades inferiores a 6 mm/min são usadas.
- 93. 93 O resultado obtido por Lopes e Ladeira (1996), utilizando uma areia bem graduada, revelou um acréscimo de 30% na resistência, ao aumentar a velocidade de arrancamento de 1,8 mm/min para 22 mm/min. Segundo os autores, o aumento na resistência ao arrancamento com o aumento da velocidade do ensaio é devido à redução da capacidade de rearranjo dos grãos de solo. Confirmando o comportamento verificado por Lopes e Ladeira (1996), porém, utilizando um equipamento de ensaio de arrancamento de pequena dimensão, Kakuda (2005) realizou uma série de ensaios com diferentes velocidades de arrancamento (2 mm/min, 4,6 mm/min, 8 mm/min, e 100 mm/min), também utilizando um solo bem graduado. Os resultados revelaram que a força de arrancamento manteve-se praticamente constante para as três primeiras velocidades de ensaio. No entanto, observou-se um acréscimo superior a 10% quando a velocidade passou de 8 mm/min para 100 mm/min. Supõe-se, a partir destes resultados, que as respostas de resistência ao arrancamento de geogrelhas, diante da variação da velocidade do ensaio, podem ser bastante influenciadas, entre outros fatores, pela distribuição granulométrica do solo ensaiado. Utilizando um modelo teórico, Palmeira (2004) obteve para ensaios de arrancamento com velocidades entre 0,1 e 50 mm/min em uma grelha hipotética, resultados que mostraram a influência da velocidade na resposta ao arrancamento de grelhas extensivas. 2.3.4.9 Densidade do Solo Farrag et al. (1993) verificaram que o aumento na densidade leva à mobilização do mecanismo de entrosamento e, conseqüentemente, resulta em uma maior contribuição na resistência passiva exercida nos elementos transversais, o que contribui com o aumento da resistência ao arrancamento (Figura 28). No trabalho apresentado por Lopes e Ladeira (1996),
- 94. 94 verifica-se que os deslocamentos movem-se para mais próximo do ponto de aplicação da carga de arrancamento. Figura 28. Efeito da densidade no resultado do ensaio de arrancamento (FARRAG et al., 1993). De acordo com Lopes e Ladeira (1996), quando a densidade do solo aumenta o módulo de rigidez de interface e a resistência de arrancamento também aumentam e o comprimento de aderência reduz. 2.3.4.10 Tensão de Confinamento Semelhantemente ao efeito causado pela densidade do solo, um aumento na tensão de confinamento, embora reduza a tendência do solo a dilatar, resulta em aumentos significantes na resistência de arrancamento de geogrelhas. Esse aumento é devido a um aumento na resistência passiva do solo nos elementos transversais (FARRAG et al., 1993). A Figura 29 demonstra a influência da tensão de confinamento na resistência ao arrancamento de geogrelhas.
- 95. 95 De acordo com o estudo de Lopes e Ladeira (1996), o aumento da tensão de confinamento no ensaio de arrancamento: - é responsável pelo aumento na resistência de arrancamento; - diminui o fator de aderência; - reduz o deslocamento da geogrelha levando à mobilização de mais alta tensão tangencial próximo ao final da geogrelha. Figura 29. Efeito da tensão de confinamento no resultado do ensaio de arrancamento (FARRAG et al., 1993). 2.3.4.11 Comprimento do Corpo-de-Prova vs. Tensão de Confinamento Segundo Moraci e Recalcati (2006), para as suas condições de ensaio, corpos-de-prova de reforços longos (1,15m) sob tensões de confinamento altas (>25 kPa) mostram deformações longitudinais altas; este fato induz a uma mobilização progressiva dos mecanismos de interação que determinam a resistência a tração (Figura 30a). Por outro lado, corpos-de-prova curtos (0,40m) ou corpos-de-prova longos sob tensões de confinamento baixas (< 25 kPa) mostram deformações longitudinais baixas (Figura 30b) e então um quase imediato desenvolvimento de mecanismos de interação.
- 96. 96 Figura 30. Deslocamento ao longo dos corpos-de-prova: (a)LR = 1,15m; (b) LR = 0,40m (MORACI & RECALCATI, 2006). 2.3.4.12 Extremidade Livre do Corpo-de-Prova No trabalho apresentado por Palmeira (2004), usando um modelo teórico em uma grelha hipotética, observou-se que comprimento livre do reforço (l0) tem também uma influência marcante na deformação mobilizada ao longo do comprimento do reforço, dependendo do deslocamento da extremidade livre da grelha considerada, como pode ser visualizado na Figura 31. Esta constatação será relevante para o caso de equipamentos de ensaio que possuam o sistema de fixação do reforço longe da borda do solo e/ou equipamentos com mangas de comprimentos extensos para aumentar a distância entre o comprimento de reforço a ser testado e a parede frontal da caixa de ensaio. Palmeira (2004) ainda chama a atenção para o fato que uma resposta não-linear observada nas curvas carga-deslocamento e distribuições de deformações em ensaios de arrancamento podem, em alguns casos, serem mais uma conseqüência das condições de ensaio (velocidade e comprimento livre do reforço) que do mecanismo não-linear de interação solo-grelha.
- 97. 97 Figura 31. Influência do comprimento livre da grelha no resultado do ensaio de arrancamento: (a) Força de carregamento versus deslocamento, (b) deformação de tração ao longo do comprimento da grelha para um deslocamento de arrancamento de 41 mm (PALMEIRA, 2004). 2.3.4.13 Largura do Corpo-de-Prova Alfaro et al. (1995) verificaram a existência de um mecanismo de interação bi-dimensional (2-D) e tri-dimensional (3-D) combinado no arrancamento de solos granulares densos (Figura 32). Segundo o autor, este mecanismo de interação é causado por um confinamento da zona de dilatação do solo ao redor do reforço conforme descrito por Schlosser e Elias (1978). As Figuras 32a e 32b mostram a zona não-dilatante do solo ao redor do reforço funcionando como uma contenção contra a dilatância do solo na zona dilatante. Isto, portanto,
- 98. 98 gera tensões de cisalhamento na fronteira entre as duas zonas e resulta, conseqüentemente, em um aumento da tensão normal nas duas extremidades da largura do reforço, caracterizando o mecanismo de interação 3-D. Por outro lado, no meio do reforço desenvolve-se um mecanismo de atrito de interface, o mecanismo de interação 2-D. Figura 32. Mecanismo de interação desenvolvido no reforço durante o arrancamento: tensão cisalhante e deformação mobilizadas em (a) reforço largo e (b) reforço estreito; distribuição da tensão normal em (c) reforço largo, e (d) reforço estreito (ALFARO et al., 1995). Dessa forma, no ensaio de arrancamento, à medida que a largura do corpo-de-prova vai tornando-se mais estreita, a influência da dilatância restringida resulta no desenvolvimento do que pode ser considerado um mecanismo de interação puramente 3-D. Enquanto que, ao aumentar a largura do corpo-de-prova, tal efeito e, como conseqüência, as tensões de cisalhamento entre as zonas são reduzidas.
- 99. 99 2.3.5 Resistência dos Geossintéticos à Degradação As causas da degradação dos geossintéticos são normalmente divididas em: a) Danos de instalação; b) Ataque biológico; e c) Ataque químico. Apesar dos processos específicos atuantes em cada uma dessas causas, todas elas podem ser potencializadas pelos seguintes fatores: (i) projetos mal formulados, com a escolha de inadequada do geossintético; e (ii) o sinergismo dos diferentes processos de degradação. 2.3.5.1 Danos de Instalação Os danos de instalação são decorrentes de vários fatores, tais como: utilização de ferramentas perfurocortantes, trânsito de equipamentos sobre o geossintético, utilização de materiais de aterro com partículas angulares, compactação de camadas pouco espessa, etc. Vale ressaltar que esse dano é o mais difícil de ser estimado. A razão está no alto envolvimento do fator humano, o que acarreta a introdução de fatores difíceis de serem quantificados, como por exemplo: a desatenção de um funcionário com o manuseio de ferramentas durante a execução da instalação. Ainda vale ressaltar que aos danos de instalação propriamente ditos podem ser somados os danos gerados durante o transporte e o armazenamento inadequados. Mais informações sobre as causas e o efeitos dos danos de instalação podem ser encontradas em Koerner e Koerner (1990); Billing et al. (1990, 1992); Troost e Ploeg, (1990); Watts e Brady (1990); Azambuja (1999). 2.3.5.2 Degradação Biológica Vários estudos têm mostrado que polímeros (polietileno, poliproprileno, poliamida e poliéster) são resistentes à degradação por microorganismos. Em um trabalho realizado por
- 100. 100 Albertson et al. (1980 apud COOKE & REBENFIELD, 1988), os autores expuseram filamentos de polietilenos de alta densidade (HDPDE) por dois anos à aeração contínua em recipientes contendo um meio nutriente inoculado com solo cultivado ou com fungos, Fusarium redolens. O único efeito encontrado foi o consumo muito baixo de componentes do peso molecular os quais podem ser considerados com elementos não-estruturais do polímero. A fração consumida foi de 0,36% por peso no período de dois anos, e uma diminuição de 0,16% por peso depois da pré-extração de alguns materiais de peso molecular baixo com cicloexano. Os autores concluíram que as moléculas de HDPE com um peso molecular acima de 1000 são inertes a degradação microbiológica . Em um outro estudo, Ionescu et al. (1982 apud COOKE & REBENFIELD, 1988) expuseram geotexteis de poliéster e polipropileno a várias culturas de bactérias puras e observaram nenhum sinal de biodegradação e nenhuma mudança nas propriedades após expor por um período de 5 a 7 meses. 2.3.5.3 Degradação Química A resistência dos geossintéticos à degradação química é um fator importante para a sua durabilidade. Segundo Cooke e Rebenfield (1988), as condições ambientais que contribuem para a degradação química incluem: (i) gases e vapores em contato com o geossintético, tais como oxigênio e vapores de água, (ii) condições de acidez/alcalinidade do solo e outras substâncias químicas presentes no solo, e (iii) fontes de energia às quais os geossintéticos são expostos, incluindo raios ultra-violetas dos raios solares e elevadas temperaturas. Dependendo do tipo de composto químico, mudanças na estrutura do polímero podem ser geradas por oxidação, quebra de cadeia, ligações cruzadas, inchamento ou dissolução dos polímeros, volatização ou extração dos componentes do composto polimérico, ou um aumento na cristalinidade do polímero. No trabalho de Cooke e Rebenfield (1988) é apresentado um
- 101. 101 estudo para cada tipo de polímero, assim como, para diferentes estruturas e propriedades físicas. Uma metodologia para a determinação da degradação de materiais poliméricos utilizados em aplicações de longo prazo é o focado no trabalho de Koerner et al. (1992). Um estudo sobre a previsão de vida útil de geogrelhas para aterros e taludes reforçados foi realizado por Koo e Kim (2004). Considerando o efeito químico do solo em qualquer material enterrado a primeira consideração mais importante é sua acidez ou alcalinidade (BILLING et al., 1990). Quando o reforço de geogrelha ou geotêxtil é feito de resina de poliéster (PET), uma preocupação sobre a durabilidade com relação à alta alcalinidade é manifestada. A durabilidade dos filamentos de poliéster usados nos geossintéticos é governada pela sua resistência à hidrólise que é a principal reação de degradação para este tipo de polímero (ANDERSON et al., 1992). A hidrólise ocorre quando íons de H+ , da água, reagem com as moléculas de poliéster; resultando quebra na cadeia, peso molecular reduzido e perda de resistência (KOERNER et al., 1992). Em um estudo realizado por Koerner et al. (2006), em um muro construído utilizando-se três tipos de blocos (Keystone, Mesa e Anchor), foram coletados 25 conjuntos de leituras e avaliadas as suas alcalinidades com a medida dos valores de pH. As informações para os dois primeiros anos de monitoramento (Figura.33) mostram uma tendência de diminuição gradual do valor do pH, sendo verificado atualmente próximos de pH= 8,5, com unidade de 1 pH separando o resultados dos diferentes tipos de blocos. Tal valor estaria dentro da faixa de valores sugeridos pelos fabricantes da geogrelha ensaiada para a sua aplicação em muros, barragem e taludes, que é de pH entre 4 e 9 (KOERNER et al., 2006). O que também atenderia à recomendação feita por Anderson et al., (1992), onde dizem que não seria aconselhável o uso de poliéster em aplicações onde o ambiente tem um pH maior que 10.
- 102. 102 Figura 33. Resultado de dois anos de monitoramento dos valores de pH entre blocos de concreto (Koerner et al., 2006). Como o estudo realizado por Koerner et al. (2006) descreve um estudo em andamento, os autores afirmam que uma conclusão ainda não é possível, no entanto, afirmam que o estudo representa o primeiro deste tipo e que o monitoramento de muros com 10, 20, e 30 anos poderão ser realizados para a investigação da resistência conservada pelas geogrelhas.
- 103. 103 CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS Como o presente trabalho trata-se de uma proposta de aplicação de RCD-R em uma obra geotécnica, as amostras foram submetidas aos ensaios de caracterização de solos. Para isso, foram consultados os procedimentos prescritos nas seguintes normas: • NBR 6457 (1986). Amostras de solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização; • NBR 7181/84 – Solo – Análise granulométrica; • NBR 6508/84 – Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm – Determinação da massa específica; • NBR 7182/86 – Solo – Ensaio de compactação; • NBR 9895/87 – Solo – Índice de suporte Califórnia. Nos ensaios de compactação e de CBR foi empregada a energia de Proctor Normal, e não houve reuso das amostras ensaiadas. Com o objetivo de analisar o comportamento mecânico do RCD-R, foram realizados ensaios de cisalhamento direto e ensaios de arrancamento de greogrelha. Para este último, foram consultadas as recomendações da ASTM D6706-01 – Standart Test Method for Measuring Geosynthetic Pullout Resistence in Soil. Para a realização do ensaio de pH do RCD-R, foram empregados os procedimentos prescritos pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC, 1986). Foram determinados o pH em água destilada e o pH em KCl 1M.
- 104. 104 3.1 MATERIAIS 3.1.1 Resíduos de Construção e Demolição Reciclados (RCD-R) Os RCD-R utilizados neste trabalho foram coletados na Usina de Reciclagem de Entulhos da Prefeitura de São Carlos-SP (URESC). Para o processo de reciclagem, todo resíduo que chega à URESC é separado em dois grupos: a) material “cinza”: composto por blocos de concreto e argamassa (Figura 34); b) material “misto”: composto por solos, cerâmicas e materiais “cinza” de pequenas dimensões (Figura 35). A denominação de “bica-corrida” é dada ao produto do beneficiamento (britagem e peneiramento) do RCD classificado como material “misto”. A Figura 36 apresenta a “bica- corrida”. Figura 34. RCD - Material “cinza”.
- 105. 105 Figura 35. RCD – Material “misto”. Figura 36. RCD-R – “Bica-corrida”. Atualmente, a “bica-corrida” produzida pela URESC é utilizada na recuperação de vias rurais da cidade de São Carlos/SP. Os RCD-R utilizados neste trabalho são amostras de tal material.
- 106. 106 3.1.1.2 Coleta dos RCD-R Tendo em vista a heterogeneidade do material, pensou-se em algumas estratégias de amostragem que pudessem fornecer amostras representativas. Nesse sentido, foram consultadas as seguintes normas da ABNT: • NBR NM26 – Amostragem de agregados; • NBR10007 – Amostragem de resíduos sólidos. Porém, devido ao fato da “bica-corrida” de RCD-R não ser um material tão homogêneo quanto os agregados, nem tão heterogêneo quanto os RSU, a simples adoção de uma ou outra norma supracitada mostrou-se como uma opção inapropriada. Apesar dos RCD-R serem estocados em forma de pilhas (semelhantemente aos agregados naturais), o que poderia induzir a adoção da norma NBRNM26, a grande variação da dimensão das partículas ao longo da altura da pilha (Figura 36, mostrada anteriormente) torna inadequada a adoção de tal norma. Dentro dessa perspectiva, procurou-se tratar os RCD-R como um “material novo”. Assim, na falta de normas específicas para o seu tratamento, as normas que tratam de outros materiais foram utilizadas apenas como norteadoras, cabendo sempre uma avaliação criteriosa antes da adoção de procedimentos prescritos em tais normas. Optou-se então pela a amostragem, de todo o material necessário, na saída da esteira. Buscou-se não permitir a perda de material ou a mistura destes com materiais procedentes de outras jornadas de trabalho. Nesta etapa do trabalho, foram adotados os dois procedimentos seguintes: A. Coleta do material lançado sobre uma lona plástica estendida abaixo da saída da esteira, conforme ilustrado na Figura 37; B. Coleta do material com o auxílio uma pá-carregadeira, conforme ilustrado na Figura 38.
- 107. 107 Figura 37. Coleta da amostra em lona plástica Figura 38. Coleta da amostra com pá-carregadeira.
- 108. 108 Apesar de não ser o objetivo deste trabalho explicar a variabilidade apresentada pelos RCD-R, ao caracterizá-los, procurou-se avaliar tal variabilidade com coletas em diferentes datas. Para isso, foi realizado o plano de coleta apresentado na Tabela 13. Tabela 13 – Plano de coleta realizado. Quantidade Amostra Data de Coleta (kg) RCD-R01 12/04/2006 137 RCD-R02 20/04/2006 160 RCD-R03 10/05/2006 166 RCD-R04 18/05/2006 154 RCD-R05 17/08/2006 4.000 Dentre as amostras coletadas, a amostra RCD-R05, devido a sua maior quantidade de material, foi escolhida como a amostra de referência. 3.1.2 Outros Materiais Utilizados no Programa Experimental Com o objetivo de fazer uma comparação dos resultados dos ensaios de arrancamento de geogrelha para o RCD-R com os resultados obtidos para outros materiais, foram utilizados dois materiais de referência: 1) Solo arenoso típico da região de São Carlos-SP, denominado neste trabalho como “solo”; 2) Areia grossa de construção, proveniente do Rio Mojiguaçu, denominada neste trabalho como “areia”.
- 109. 109 O solo da região de São Carlos é característico de uma vasta área da região central do Estado de São Paulo tendo sido, por isso, selecionado para os ensaios. Um ensaio de granulometria conjunta revela ser o solo uma areia-argilosa, com aproximadamente 62% de areia média e fina, 35% de argila, e 3% de silte, conforme pode ser verificado na curva granulométrica apresentada na Figura 39. A Tabela 14 apresenta os principais parâmetros do solo e os valores de coesão e ângulo de atrito interno obtidos em ensaio de cisalhamento direto, empregando-se um GC de 96%, na umidade ótima. PENEIRAS ABNT ( NBR 5734/80 ) 100 90 80 PORCENTAGEM QUE PASSA (%) 70 60 50 40 30 20 10 0 0,001 0,01 0,1 1 10 DIÂMETRO DOS GRÃOS (mm) Figura 39. Curva granulométrica do solo. Tabela 14 – Principais parâmetros do solo. Parâmetros do Solo ρs (g/cm³) 2,68 LL (%) 39 LP (%) 21 ρd,máx (g/cm³) 1,80 wot (%) 16,0 φ (°) 33 c (kPa) 20
- 110. 110 A areia foi escolhida por atender às recomendações da FHWA para material de aterro para obras públicas com solo reforçado (Tabela 10, apresentada anteriormente no item 2.3.1). A Figura 40 apresenta a curva granulométrica obtida para a areia utilizada no programa experimental. Os principais parâmetros da areia utilizada, assim como, o valor do ângulo de atrito interno obtido em ensaio de cisalhamento direto com GC de 96%, são apresentados na Tabela 15. PENEIRAS ABNT ( NBR 5734/80 ) 100 200 100 50 10 4 3/ 4" 90 80 PORCENTAGEM QUE PASSA (% 70 60 50 40 30 20 10 0 0,001 0,01 0,1 1 10 100 DIÂMETRO DOS GRÃOS (mm) Figura 40. Curva granulométrica da areia. Tabela 15 – Principais parâmetros da areia. Parâmetros da Areia ρs (g/cm³) 2,826 ρd,máx (g/cm³) 1,823 emáx 0,81 emin 0,55 φ (°) 32
- 111. 111 3.1.3 Geossintético O geossintético utilizado no programa experimental foi uma geogrelha produzida a partir de multifilamentos de poliéster, organizados em forma de grelha e revestidos por PVC. Esta geogrelha é indicada para estabilização de estruturas de contenção em solo reforçado e reforço de aterro sobre solos moles. As Tabelas 16 e 17 resumem as propriedades mecânicas divulgadas pelo fabricante da geogrelha e as propriedades físicas ensaiadas, respectivamente. Tabela 16 – Propriedades mecânicas da geogrelha. Propriedades mecânicas Resistência longitudinal à tração (kN/m) 61 Resistência transversal à tração (kN/m) 30 Deformação na ruptura (%) 13 Tabela 17 – Propriedades físicas da geogrelha. Propriedades físicas Abertura nominal malha longit. (mm) 30 Abertura nominal malha transv. (mm) 20 Largura dos elementos longit. (mm) 6,5 Largura dos elementos transv. (mm) 4,5 Espessura dos elementos (mm) 1,2
- 112. 112 3.2 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADOS Além dos equipamentos e acessórios normalmente utilizados em laboratórios de geotecnia para os ensaios de caracterização dos materiais, devido ao fato das amostras de RCD-R conterem partículas de até 60 mm (Figura 41), para o ensaio de cisalhamento direto e de arrancamento, foi necessária a utilização de equipamentos de grande porte. Diante disso, por possuir a maior quantidade de material, a amostra RCD-R05 foi utilizada na realização desses ensaios. Figura 41. Amostra de RCD-R. 3.2.1 Equipamento de Cisalhamento Direto Para a realização do ensaio de cisalhamento direto foram utilizadas as instalações e instrumental do Laboratório de Mecânica das Rochas da Escola de Engenharia de São Carlos. O equipamento utilizado consiste de um pórtico em estrutura metálica com suporte para dois atuadores MTS de 50kN de carga máxima de serviço, servos controlados para forças e deslocamentos, atuando na direção normal e tangencial à caixa de cisalhamento.
- 113. 113 O sistema de aplicação dos esforços foi montado de modo que a caixa superior se deslocasse em relação à caixa inferior (mantida fixa no pórtico de reação e no piso através de parafusos). O sistema também possui articulação (rótulas) nos pontos de ancoragem dos atuadores de carga, permitido a rotulagem do dispositivo, evitando, assim, o surgimento de esforços adicionais na interface de cisalhamento. O equipamento possui a capacidade de aplicar e monitorar várias trajetórias de carregamento, o que confere ao mesmo, grande versatilidade para o estudo de mecanismos de ruptura por cisalhamento direto. Utilizou-se como caixa de cisalhamento uma caixa de aço bipartida, de dimensões internas em planta de 500 mm x 500 mm e externas de 600 mm x 600 mm. As alturas interna e externa das partes inferior e superior da caixa são iguais, sendo ambas de 240 mm. O espaçamento entre as partes da caixa foi de 20 mm. Desse modo, a dimensão resultante do corpo-de-prova foi a de um quadrado de aresta igual à 500mm, resultando numa área de contato A = 0,25 m². A instrumentação do ensaio foi realizada com a utilização de seis transdutores de deslocamento do tipo LVDT. Quatro foram utilizados para a medição dos deslocamentos verticais, e dois para a medição dos deslocamentos horizontais (Figura 42). Figura 42. Caixa de cisalhamento instrumentada.
- 114. 114 3.2.2 Equipamento de Ensaio de Arrancamento Assim como para o ensaio de cisalhamento direto, para a realização do ensaio de arrancamento de geogrelha foi necessário utilizar um equipamento de grande porte (Figura 43). Dessa forma, os ensaios foram realizados no Laboratório de Geossintéticos da Escola de Engenharia de São Carlos. O equipamento utilizado nos ensaios foi desenvolvido por Teixeira (1999). No entanto, foram realizadas algumas modificações no sistema de aplicação de força de arrancamento e na instrumentação do ensaio. O equipamento é constituído, em linhas gerais, por uma estrutura metálica, desmontável, composta de quatro partes básicas: a) caixa de ensaios; b) sistema de aplicação da força de arrancamento; c) sistema de aplicação da sobrecarga; d) instrumentação. Figura 43. Equipamento de ensaio de arrancamento desenvolvido por Teixeira (1999). A caixa de ensaios consiste de uma estrutura de aço, rígida, com seção transversal retangular, com dimensões internas de 480 mm de altura, 700 mm de largura e 1500 mm de comprimento e constituída de chapas de aço com espessura de 3/16”. A caixa é reforçada externamente por perfis do tipo U 4 x 2 x 3/16 ” soldados às paredes. Ainda com a intenção de
- 115. 115 diminuir os efeitos da proximidade da parede frontal rígida, existe uma manga de aço com 200 mm de comprimento, 600 mm de largura e 20 mm de abertura, que se instala no interior da caixa de ensaios e por onde passa a inclusão a ser ensaiada. Todo o detalhamento da caixa pode ser encontrado em Teixeira (1999). Foram realizados dois tipos de instrumentação no ensaio: a) Medida da força de tração: Foi utilizada uma célula de carga com capacidade nominal de 50kN, posicionada entre a garra (utilizada para fixar a geogrelha ao sistema de arrancamento) e a barra de tração (Figura 44); 2 3 1 4 Figura 44. Sistema de aplicação de força de tração: (1) Geogrelha; (2) Garra de fixação da geogrelha; (3) Célula de carga; (4) Barra de tração). b) Medida dos deslocamentos: Foram utilizados fios inextensíveis (para as cargas aplicadas aos mesmos) de aço inoxidável de 0,60 mm de diâmetro. Os fios tiveram uma das pontas fixadas nos pontos definidos para a leitura de deslocamento distribuídos ao longo da geogrelha (Figura 45 e Tabela 18), e, à outra ponta do fio, foram conectados pesos de 500g. A leitura dos deslocamentos dos pesos foi realizada com a utilização de transdutores de
- 116. 116 deslocamentos do tipo LVDT. Buscando-se minimizar o atrito entre o material de preenchimento da caixa de ensaio e os fios de aço, foram utilizadas mangueiras de nylon de 1,30 mm de diâmetro. Dessa forma, todo o comprimento dos fios de aço, entre os pontos de leitura e os pesos, ficou encapsulado pela mangueira de nylon. A Figura 46 ilustra a instrumentação utilizada para a medida dos deslocamentos da geogrelha. Figura 45. Pontos de leitura dos deslocamentos ao longo da geogrelha. Tabela 18 – Distâncias dos pontos de leitura em relação à manga. Distância com relação à manga Ponto de Leitura (mm) 01 50 02 215 03 360 04 530
- 117. 117 Figura 46. Instrumentação utilizada na medida dos deslocamentos. 3.3 PROCEDIMENTOS DOS ENSAIOS 3.3.1 Cisalhamento Direto O procedimento de ensaio obedeceu a seguinte seqüência: a) Preparação do RCD-R e correção do teor de umidade: O RCD-R foi seco à sombra e posteriormente homogeneizado. Em seguida, determinou-se a sua umidade higroscópica e fez-se a correção de umidade, com o auxílio de uma betoneira, para adequá-la à umidade especificada no trabalho. b) Compactação do RCD-R A compactação foi controlada através do conhecimento da massa de RCD-R a ser compactada no interior da caixa de ensaio. A compactação foi executada em seis camadas de 8,33 cm.
- 118. 118 O grau de compactação no ensaio foi de 98%, considerando ensaio de Proctor Normal como referência. A umidade adotada no ensaio foi de 11,5 % (w = wot – 1,5). c) Execução do ensaio O ensaio foi realizado com múltiplos estágios, com a aplicação da menor tensão normal prevista no programa experimental, o deslocamento horizontal da caixa de cisalhamento até o limite do equipamento, o retorno da caixa de cisalhamento para a posição inicial, e o reinício do ensaio para a próxima tensão aplicada. No ensaio foram aplicadas sobre o corpo-de-prova tensões constantes normais de 50 kPa, 150 kPa e 300 kPa, seguindo esta ordem de aplicação durante o ensaio. 3.3.2 Ensaio de Arrancamento Foram realizados ensaios de arrancamento de geogrelha com três materiais de preenchimento: a) Areia; b) Solo; e c) RCD-R. O procedimento de ensaio obedeceu a seguinte seqüência: a) Preparação do material de preenchimento e correção do teor de umidade: Os materiais de preenchimento foram secos à sombra. A areia foi ensaiada após a secagem. Para o solo e para o RCD, posteriormente à secagem, foram determinadas as umidades higroscópica e fez-se a correção de umidade, com o auxílio de uma betoneira, para adequá-la à umidade especificada no trabalho para cada material. No entanto, antes da correção de umidade, o solo foi peneirado na peneira #4. b) Preparação da caixa de teste Com o objetivo de evitar o efeito de atrito de interface que se desenvolve entre o material de preenchimento e as paredes internas da caixa de teste, um revestimento das paredes
- 119. 119 internas foi realizado com duas membranas, intercaladas com material lubrificante, conforme recomendado por Palmeira e Milligan (1989) e por Ochiai et al. (1996). Neste trabalho foram utilizadas membranas de PVC com 0,8mm de espessura, intercaladas com graxa. c) Compactação dos materiais A compactação foi controlada através do conhecimento da massa dos diferentes materiais de preenchimento a serem compactados no interior da caixa de ensaio. A Tabela 19 resume os graus de compactação e espessuras de cada camada para os materiais ensaiados. Tabela 19 – Critérios adotados para a compactação dos materiais durante o ensaio de arrancamento. Material GC Espessura (%) (cm) RCD-R 96 7,5 Solo 96 4,5 Areia 96 11,25 d) Montagem do ensaio As camadas foram compactadas sucessivamente até que a superfície acabada coincidisse com a altura de 22,5 cm em relação ao fundo da caixa de ensaio. Em seguida foi instalada a manga; estendida a geogrelha, com 49,5 cm de largura, e 60 cm de comprimento a partir da manga; fixados os fios de aço nos diferentes pontos de leitura de deslocamento; e, depois de conferido os esquadros, era então reiniciada a compactação das camadas até atingir a altura de 45 cm em relação ao fundo da caixa de ensaios. Nos 3 cm restantes da altura da caixa, com o objetivo de aplicar uma sobrecarga sobre o material compactado, dispunha-se um colchão inflável.
- 120. 120 e) Execução do ensaio Buscando-se reproduzir as estruturas físicas do maciço reforçado, foram aplicados níveis de tensões próximos dos valores de campo. Para os três materiais testados, foram realizadas séries de ensaios com a aplicação de sobrecargas de 25, 50 e 100 kPa. Tais valores, considerando-se um peso específico de 20 kN/m³, equivaleriam às tensões existentes em um muro de 5 metros de altura, o que corresponde a altura de construção de 60% dos muros construídos no Brasil, segundo Bueno et al. (2006). Com o intuito de manter as mesmas condições de ensaio para os três materiais de preenchimento, dentre os fatores que influenciam o ensaio de arrancamento apresentados neste trabalho (item 2.3.4), foram mantidos iguais e constantes os seguintes: i) Rigidez do topo: emprego um colchão inflável; ii) Rigidez da parede frontal: parede frontal rígida; iii) Rugosidade da parede frontal: parede lubrificada; iv) Proximidade da parede frontal: uso uma manga de 20 cm; v) Escala: emprego de apenas um tipo de geogrelha; vi) Espessura do solo: camadas acima e abaixo do reforço iguais a 22,5 cm de solo; vii) Velocidade de ensaio: emprego de velocidade de 6,8 mm/min, devido à restrição do equipamento; viii) Tensão de confinamento: aplicação de tensões de 25 kPa, 50 kPa e 100 kPa; ix) Comprimento do corpo-de-prova enterrado: comprimento de 60 cm; x) Extremidade livre (não confinada) do corpo-de-prova: comprimento livre de 31 cm de geogrelha, devido à limitação do equipamento; xi) Largura do corpo-de-prova: largura igual a 49,5 cm;
- 121. 121 CAPÍTULO 4 – RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÕES. 4.1 Caracterização 4.1.1 Análise Granulométrica A Figura 47 mostra as curvas de distribuição granulométricas das diferentes amostras de RCD-R e verifica-se que elas apresentaram uma pequena variabilidade, mostrando que o processo de beneficiamento segue um padrão de produção. Segundo a ABNT o RCD-R pode ser classificado como um pedregulho arenoso. 100 90 RCD-R01 PORCENTAGEM QUE PASSA (%) 80 RCD-R02 RCD-R03 70 RCD-R04 RCD-R05 60 50 40 30 20 10 0 0,001 0,01 0,1 1 10 100 DIÂMETRO DOS GRÃOS (mm) Figura 47. Curvas granulométricas obtidas para as amostras de RCD-R. Analisando os valores dos coeficientes de variação (CV) do percentual passante de material em função das aberturas das peneiras (Figura 48), é possível verificar uma diminuição dos valores de CV à medida que aumentam as dimensões das aberturas da peneiras. Tal ocorrência evidencia uma maior influência na quantidade de finos gerados abaixo da peneira de 0,075 mm de abertura pelos fatores já apresentados no item 2.2.4.
- 122. 122 50 45 40 35 Coef. Variação (%) 30 25 20 15 10 5 0 0,001 0,010 0,100 1,000 10,000 100,000 Abertura das Peneiras (mm) Figura 48. Variação dos coeficientes de variação do percentual passante em função das aberturas das peneiras. 4.1.2 Limites de Consistência Todas as amostras ensaiadas apresentaram comportamento não-plástico. Esse é um ponto positivo para os RCD-R se se levar em consideração as recomendações das normas BS 8006 e FHWA 2001, as quais sugerem o uso de materiais que não apresentam parcela de resistência coesiva. 4.1.3 Massa Específica dos Sólidos Para a determinação da massa específica dos sólidos foi adotado o procedimento utilizado para solos com mais de 5% das partículas menores que 0,075 mm. A Tabela 20 apresenta os resultados encontrados no ensaio.
- 123. 123 Tabela 20 – Resultados encontrados no ensaio de massa específica dos sólidos. Massa Específica dos Sólidos Amostra (g/cm³) RCD-R01 2,734 RCD-R02 2,716 RCD-R03 2,889 RCD-R04 2,882 RCD-R05 2,875 O resultado dos ensaios de massa específica dos sólidos fornece um valor médio de 2,819 g/cm³, com um coeficiente de variação de apenas 3,1%. 4.2 Análise Visual com Microscópio Eletrônico Foi realizada uma investigação visual, com o emprego de um microscópio eletrônico, dos três materiais ensaiados com o intuito de inquirir as características de: (i) composição do material, (ii) forma das partículas e (iii) aspectos de superfície. As análises foram realizadas com os materiais pertencentes a duas faixas granulométricas: (a) materiais retidos entre as peneiras de 2,00mm e 1,19mm de abertura; e (b) materiais passantes na peneira de abertura 0,075 mm. 4.2.1 Material Retido entre as Peneiras de 2,00 mm e 1,19 mm de Abertura Observando-se a Figura 49, é possível verificar as seguintes características para os materiais retidos entre as peneiras de 2,00 mm e 1,19 mm de abertura:
- 124. 124 (a) Areia: Composta por grãos de quartzo, com formas angulares e superfícies bastante rugosas (Figura 49a); (b) Solo: Composto por grãos de diversos minerais, com formas sub-angulares e superfícies rugosas (Figura 49b); (c) RCD-R: Composto por partículas de material cimentício, com formas arredondadas e superfícies desde muito rugosas a pouco rugosas (Figura 49c). (a) (b)
- 125. 125 (c) Figura 49. Material retido entre as peneiras de 2,00 mm e 1,19 mm de abertura: (a) areia, (b) solo e (c) RCD-R. 4.2.2 Material Passante na Peneira de 0,075 mm de Abertura. Verificando-se a Figura 50, é possível observar as seguintes características para os materiais passante na peneira de 0,075 mm: (a) Areia: Composta por grãos de quartzo, com formas sub-angulares e superfícies rugosas (Figura 50a); (b) Solo: Composto por aglomerações de material argiloso, sem formas e superfície definidas (Figura 50b); (c) RCD-R: Composto por partículas de material cimentício, com diferentes formas e superfícies (Figura 50c).
- 126. 126 (a) (b) (c) Figura 50. Material passante na peneira de 0,075 mm: (a) areia, (b) solo e (c) RCD-R.
- 127. 127 4.3 Compactação Devido ao fato do ensaio de compactação com a utilização do cilindro grande exigir uma quantidade muito maior que para a realização do ensaio com o cilindro pequeno, o que comprometeria a realização dos demais ensaios previstos no programa experimental, optou-se pelo o uso do cilindro pequeno. A Figura 51 apresenta as curvas de compactação encontradas nos ensaios aplicando-se a energia de Proctor Normal. A Tabela 21 apresenta um resumo dos resultados obtidos no ensaio de compactação. 1,90 RCD-R01 RCD-R02 1,85 RCD-R03 RCD-R04 RCD-R05 ρ d (g/cm ) 1,80 3 1,75 1,70 1,65 10 12 14 16 18 20 w (%) Figura 51. Curvas de compactação das amostras de RCD-R.
- 128. 128 Tabela 21 – Resultados do ensaio de compactação. wot ρdmáx Amostra (%) (g/cm³) RCD-R01 16,2 1,82 RCD-R02 17,8 1,79 RCD-R03 14,2 1,85 RCD-R04 13,6 1,87 RCD-R05 13,0 1,89 O resultado dos ensaios de compactação fornece um valor médio de ρdmáx igual à 1,844 g/cm³, com um coeficiente de variação de apenas 2,1%. O valor médio das wot foi de 14,9 %, com um coeficiente de variação de 13,3 %. 4.4 Efeito da Compactação na Granulometria das Amostras Ensaiadas O uso de RCD-R em obras de engenharia deve ser acompanhado da preocupação com a quebra destes materiais durante o processo de construção e/ou durante as solicitações impostas pela obra. Diante disso, foram realizadas análises granulométricas de amostras virgens (“não compactadas”) e amostras que já tinham sido submetidas ao ensaio de compactação (amostras “compactadas”). Como já dito no Capítulo 3, os ensaios de compactação foram realizados com energia de Proctor Normal e sem reuso. As Figuras 52, 53 e 54 apresentam os resultados obtidos para análise do efeito da compactação na granulometria das amostras RCD-R03, RCD-R04 e RCD-R05, respectivamente.
- 129. 129 100 Não Compactado 90 Compactado 80 PORCENTAGEM QUE PASSA (% 70 60 50 40 30 20 10 0 0,001 0,01 0,1 1 10 100 DIÂMETRO DOS GRÃOS (mm) Figura 52. Efeito do ensaio de compactação (Proctor Normal) na granulometria da amostra RCD-R03. 100 Não Compactação 90 Compactado 80 PORCENTAGEM QUE PASSA (% 70 60 50 40 30 20 10 0 0,01 0,1 1 10 100 DIÂMETRO DOS GRÃOS (mm) Figura 53. Efeito do ensaio de compactação (Proctor Normal) na granulometria da amostra RCD-R04.
- 130. 130 100 90 Não Compactado Compactado 80 PORCENTAGEM QUE PASSA (% 70 60 50 40 30 20 10 0 0,01 0,1 1 10 100 DIÂMETRO DOS GRÃOS (mm) Figura 54. Efeito do ensaio de compactação (Proctor Normal) na granulometria da amostra RCD-R05. Verifica-se que, para o RCD-R03, que, para ambas as condições (não-compactadado e compactado), as curvas coincidiram. Para as demais amostras ensaiadas, a compactação não alterou significativamente a sua granulometria. Supõe-se que isso se deve ao fato do RCD-R, ao longo da sua produção, ser submetido há várias etapas (geração, transporte para a usina de beneficiamento, disposição em áreas de triagem, transporte para o processo de beneficiamento, o beneficiamento em si, e transporte para disposição em área de armazenamento) que contribuem para o processo de cominuição do material. Dessa forma, ao final de beneficiamento, o RCD-R apresenta-se como um material resistente à energia aplicada no ensaio.
- 131. 131 4.5 Ensaio de CBR Utilizando-se a amostra RCD-R05, foi realizado o ensaio de CBR, cujos resultados são apresentados na Figura 55. Os resultados são resumidos na Tabela 22. Figura 55. Resultado do ensaio de CBR simultâneo. Tabela 22 – Resultado do ensaio de CBR. Parâmetros Valores ρd MÁX (g/cm³) 1,83 wot (%) 9,0 CBR (%) 60 Expansão 0,05
- 132. 132 O resultado do ensaio revela que o material não é expansivo e que, para a umidade ótima, apresenta um valor de CBR igual a 60%. Tais valores justificam a, já praticada, utilização de RCD-R como material para pavimentação. 4.6 Ensaios de pH Embora os solos empregados em estruturas de solo-reforçado normalmente não passem por uma prévia análise química, tal análise é interessante para o uso de RCD-R, como uma medida de precaução. A análise química poderia eventualmente ser aprofundada, caso os resultados de pH apontassem tal necessidade. As Tabelas 23 e 24 apresentam os resultados de pH obtidos. Tabela 23 – Resultados do ensaio de pH em água destilada. Temperatura Amostra pH (°C) RCD-R01 8,6 23,2 RCD-R02 8,8 23,2 RCD-R03 9,5 23,2 RCD-R04 9,3 23,2 RCD-R05 9,4 25,0 O resultado dos ensaios de pH em água destilada fornece um valor médio de 9,1, com um coeficiente de variação de apenas 4,3%.
- 133. 133 Tabela 24 – Resultados do ensaio de pH em KCl 1M. Temperatura Amostra pH (°C) RCD-R01 8,7 22,9 RCD-R02 8,9 22,8 RCD-R03 9,5 22,7 RCD-R04 9,3 22,8 RCD-R05 9,9 25,0 O resultado dos ensaios de pH em KCl 1M fornece um valor médio de 9,3, com um coeficiente de variação de apenas 5 %. Observa-se que o extrato aquoso do RCD-R é alcalino. Tal verificação pode ser atribuída à presença do cimento e da cal. No entanto, devido ao fato da geogrelha possuir um revestimento de PVC, essa constatação deve ser tratada com atenção, já que álcalis diluídos exibem efeitos discretos sobre o PVC em temperaturas baixas, porém, em temperaturas elevadas, pode ocorrer hidrólise ou extração do plastificante. No caso de álcalis concentrados, estes provocam hidrólise do plastificante mesmo em temperaturas baixas (RODOLFO JR et al., 2002). A ocorrência de danos mecânicos durante a instalação de geogrelha também deve ser analisado com cautela, tendo em vista que isso poderia potencializar a degradação química ao expor materiais abaixo do revestimento de proteção. Para o caso da geogrelha ensaiada (uma geogrelha produzida a partir de multifilamentos de poliéster, organizados em forma de grelha e revestidos por PVC), observa-se que o valor obtido encontra-se próximo ao valor máximo de pH recomendado para o emprego de geossintéticos de poliéster, que seria de pH = 10 (conforme apresentado no item 2.3.5.3 anteriormente).
- 134. 134 A análise da diferença positiva entre o pH em KCl lM e o pH em água destilada, verificada no RCDR-01, RCD-R2 e RCD-R05, indica a predominância de cargas positivas. Enquanto que, a diferença nula, verificada no RCD-R3 e RCD-R04, indica que o número de cargas positivas e negativas são iguais. 4.7 Ensaio de Cisalhamento Direto A Figura 56a mostra as curvas Tensão x Deslocamento para o RCD-R05. Na Figura 56b têm-se as curvas Deslocamento Vertical x Deslocamento Horizontal para o RCD-R05. τ (kPa) 300 250 200 300 kPa 150 kPa 150 50 kPa 100 50 0 0 10 20 30 40 50 60 δ (mm) Figura 56a. Curvas Tensão x Deslocamento do ensaio de cisalhamento direto para RCD-R05.
- 135. 135 δH (mm) -10 -9 -8 -7 300 kPa -6 150 kPa 50 kPa -5 -4 -3 -2 -1 0 0 10 20 30 40 50 60 δV (mm) Figura 56b. Curvas Deslocamento Vertical x Deslocamento Horizontal do ensaio de cisalhamento direto para RCD-R05. Verificou-se que o RCD-R05 apresentou comportamento da Tensão vs. Deslocamento do tipo plástico (“por deformação excessiva”), isto é, a tensão é crescente até um determinado valor e a partir daí as deformações começam a crescer, praticamente sem variações de tensões. Num caso como este, a tensão de cedência poderia caracterizar a ruptura, pois uma vez atingida as deformações poderiam crescer de tal monta de sorte a inviabilizar qualquer obra construída com esse material ou sobre ele. As variações dos deslocamentos verticais revelaram que houve uma redução no volume do corpo-de-prova durante o ensaio. A Figura 57 apresenta a obtenção da envoltória de resistência da amostra RCD-R05, que tem por equação: τ = 13 + σ tg 41 º (kPa) (01)
- 136. 136 τ (kPa) 300 250 41o 200 150 100 50 0 0 50 100 150 200 250 300 350 σ (kPa) Figura 57. Obtenção da envoltória de resistência da amostra RCD-R05. Nota-se que o ângulo de atrito do RCD-R (φ = 41°) é maior que os dos outros dois materiais utilizados como referência (solo φ = 33º; areia φ = 32°). No entanto, vale salientar que os ensaios de cisalhamento direto do RCD-R e dos materiais de referência foram realizados em equipamentos diferentes, o que pode afetar os valores encontrados. No entanto, o resultado obtido para o RCD-R revela que o material possui um excelente comportamento mecânico, o que pode sugerir o seu uso como material de construção em várias outras aplicações geotécnicas. 4.8 Ensaio de Arrancamento. 4.8.1 Análise das Curvas Força X Deslocamento. A fim de analisar o comportamento de cada material, as figuras seguintes estão apresentadas em função das sobrecargas aplicadas e dos materiais utilizados. Os valores
- 137. 137 exibidos nas legendas indicam a distância inicial do ponto de leitura do deslocamento em relação à manga da caixa de ensaios. 4.8.1.1 Ensaios com 25 kPa de Sobrecarga. Todos os materiais ensaiados com a aplicação de uma sobrecarga de 25 kPa proporcionaram o arrancamento da geogrelha. Verificou-se também o comportamento de mobilização dos elementos seguindo do ponto mais próximo da aplicação da força para o mais afastado, o que está de acordo com Farrag et al. (1993). Para a areia (Figura 58), observam-se curvas apresentando um incremento de deslocamento com o acréscimo de aplicação de força, até alcançar um valor máximo; seguindo-se de um incremento de deslocamento mesmo com o decréscimo do valor da força aplicada. 20 18 16 14 Carregamento (kN/m) 12 Ponto 1 50 mm Ponto 2 215 mm 10 Ponto 3 360 mm Ponto 4 530 mm 8 6 4 2 0 0 10 20 30 40 50 60 Deslocamento Horizontal (mm) Figura 58. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para a areia aplicando-se uma sobrecarga de 25 kPa.
- 138. 138 Para o solo (Figura 59) e o RCD-R (Figura 60), verifica-se que houve o crescimento da tensão até um determinado valor máximo FY e, a partir daí, os deslocamentos continuam a crescer, praticamente sem variação de força. Observa-se que o solo apresentou uma maior resistência ao arrancamento, seguido pelo RCD-R, e, por último, pela areia. A Tabela 25 apresenta um resumo do ensaio de arrancamento com sobrecarga de 25 kPa. 50 45 40 35 Carregamento (kN/m) 30 Ponto 1 50 mm Ponto 2 215 mm 25 Ponto 3 360 mm Ponto 4 530 mm 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Deslocamento Horizontal (mm) Figura 59. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o solo aplicando-se uma sobrecarga de 25 kPa.
- 139. 139 35 30 25 Carregamento (kN/m) 20 Ponto 1 50 mm Ponto 2 215 mm Ponto 3 360 mm 15 Ponto 4 530 mm 10 5 0 0 10 20 30 40 50 60 Deslocamento Horizontal (mm) Figura 60. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o RCD-R05 aplicando-se uma sobrecarga de 25 kPa. Tabela 25 – Resultados do ensaio de arrancamento com sobrecarga de 25 kPa. Sobrecarga Força de Arrancamento Material (kPa) (kN/m) Areia 17,60 25 Solo 43,90 RCD-R 31,46
- 140. 140 4.8.1.2 Ensaios com 50 kPa de Sobrecarga Analisando a Figura 61, verifica-se para a areia o mesmo comportamento observado para a tensão de 25 kPa. Porém verifica-se, para os pontos de leituras posicionados inicialmente a 350 e 515 mm da manga, um estacionamento do deslocamento após atingida a força máxima, seguido de um repentino reinício de deslocamento mesmo com a decréscimo da força aplicada. Buscando esclarecer tal comportamento, foi realizado uma cuidadosa exumação da geogrelha, com o auxílio de jato de ar (Figura 62). A exumação revelou que acontecera a ruptura da junção entre o elemento transversal e o longitudinal da geogrelha, o que deu origem, assim, ao comportamento observado. 35 30 25 Carregamento (kN/m) 20 15 Ponto 1 50 mm 10 Ponto 2 215 mm Ponto 3 360 mm Ponto 4 530 mm 5 0 0 10 20 30 40 50 60 Deslocamento Horizontal (mm) Figura 61. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para a areia aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa.
- 141. 141 Figura 62. Exumação da geogrelha submetida ao ensaio de arrancamento para a areia aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. Durante os ensaios com o solo e com o RCD-R houve a ruptura da geogrelha na região não confinada. Dessa forma, a força de arrancamento para esses materiais, na realidade, é superior aos valores obtidos durante o ensaio. No entanto, analisando as curvas do ensaio com solo (Figura 63), verifica-se que a força de ruptura (57,68 kN/m) aproxima-se bastante do valor de resistência nominal (60 kN/m) divulgada pelo fabricante da geogrelha. Este resultado demonstra que o solo comportou-se com uma “garra” no ensaio de tração.
- 142. 142 70 60 50 Carregamento (kN/m) 40 Ponto 1 50 mm Ponto 2 215 mm Ponto 3 360 mm 30 Potno 4 530 mm 20 10 0 0 5 10 15 20 25 Deslocamento Horizontal (mm) Figura 63. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o solo aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. O valor da força de ruptura obtido para o RCD-R (Figura 64), apresentando-se abaixo do valor de resistência nominal divulgada pelo fabricante, é explicado pela ocorrência do ancoramento da geogrelha por partículas de RCD-R à frente de alguns elementos transversais, conforme verificado durante a exumação da geogrelha (Figura 65). O ancoramento gerou a concentração de tensão em determinadas regiões da geogrelha, causando, assim, a precoce ruptura em tais regiões.
- 143. 143 45 40 35 Carregamento (kN/m) 30 Ponto 1 50 mm 25 Ponto 2 215 mm Ponto 3 360 mm 20 Ponto 4 530 mm 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 Deslocamento Horizontal (mm) Figura 64. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o RCD-R05 aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. Figura 65. Ancoramento observado durante exumação da geogrelha submetida ao ensaio de arrancamento para o RCD-R05 aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa.
- 144. 144 4.8.1.3 Ensaios com 100 kPa de Sobrecarga Os resultados dos ensaios realizados aplicando-se uma sobrecarga de 100 kPa (Figuras 66, 67 e 68) confirmaram as análises feitas para os ensaios realizados aplicando-se uma sobrecarga de 50kPa. A Tabela 26 apresenta um resumo dos ensaios de arrancamento com sobrecargas de 50 e 100 kPa. 40 35 30 Carregamento (kN/m) 25 Ponto 1 50 mm Ponto 2 215 mm 20 Ponto 3 360 mm Ponto 4 530 mm 15 10 5 0 0 10 20 30 40 50 60 Deslocamento Horizontal (mm) Figura 66. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para a areia aplicando-se uma sobrecarga de 100 kPa.
- 145. 145 60 50 Carregamento (kN/m) 40 Ponto 1 50 mm Ponto 2 215 mm 30 Ponto 3 360 mm Ponto 4 530 mm 20 10 0 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Deslocamento Horizontal (mm) Figura 67. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o solo aplicando-se uma sobrecarga de 100 kPa. 60 50 Carregamento (kN/m) 40 Ponto 1 50 mm Ponto 2 215 mm 30 Ponto 3 360 mm Ponto 4 530 mm 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Deslocamento Horizontal (mm) Figura 68. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o RCD-R05 aplicando-se uma sobrecarga de 100 kPa.
- 146. 146 Tabela 26 – Resultados do ensaio de arrancamento com sobrecarga de 50 e 100 kPa. Sobrecarga Força de Arrancamento¹ Material (kPa) (kN/m) Areia 30,36 50 Solo 57,68 RCD-R 40,97 Areia 37,23 100 Solo 56,50 RCD-R 49,92 ¹ Para o solo e o RCD-R, verificou-se a ruptura da geogrelha na região não-confinada. Tendo em vista que a ruptura da geogrelha aconteceu na região não confinada da geogrelha, a diferença de apenas 2% entre os valores de força de arrancamento, ao variar a aplicação de sobrecargas de 50 kPa para 100 kPa, evidencia a distribuição uniforme das tensões durante o ensaio com o solo; enquanto que a diferença de aproximadamente 18% verificada para o RCD-R demonstra a concentração de tensão durante a realização do ensaio. 4.8.2 Análise dos Coeficientes de Resistência de Interfase Apesar da ruptura da geogrelha, verificada nos ensaios com o solo e o RCD-R (para sobrecargas de 50 kPa e 100 kPa), observou-se que o aumento das sobrecargas aplicadas proporcionou o decréscimo do coeficiente de resistência de interface (Tabela 27 e Figura 69). Este resultado está de acordo com os resultados obtidos por Lopes e Ladeira (1996) e Teixeira (1999). Analisando apenas os valores dos coeficientes de resistência de interface obtidos com a sobrecarga aplicada de 25 kPa, na qual ocorreu efetivamente o arrancamento da geogrelha,
- 147. 147 verifica-se que o solo apresentou o melhor valor de coeficiente de resistência de interface. Contudo, verifica-se que o RCD-R apresentou um valor superior ao da areia, mesmo esta atendendo às recomendações dadas pela FHWA para execução de obras públicas nos EUA. Tabela 27 – Coeficientes de Resistência de Interface. Sobrecarga Material Coef. de Resist. de Interface² (kPa) 25 0,94 Areia 50 0,81 100 0,50 25 2,29 Solo 50 1,50 100 0,74 25 1,30 RCD-R 50 0,85 100 0,52 ² Coef. de Resistência na Interface ƒ = τ / (σ tgφ). Onde: τ é a tensão cisalhante em uma face da geogrelha, no instante da ruptura; σ é a tensão normal; φ é o ângulo de atrito do material de preenchimento da caixa.
- 148. 148 Envoltórias f x σ f 3 2 RCD-R05 Solo 1 Areia 0 0 20 40 60 80 100 120 σ Figura 69. Variação do Coeficiente de Interface em função da Tensão Normal aplicada. 4.8.3 Análise das Curvas dos Deslocamentos ao Longo da Geogrelha Os seguintes gráficos possuem, no eixo das ordenadas, os valores de deslocamento da geogrelha e, no eixo das abscissas, as distâncias a partir da manga. A construção das curvas em função dos valores percentuais de força aplicada (50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100%) em relação à resistência de ruptura permite acompanhar a evolução dos descolamentos nos diferentes pontos de leitura (50 mm, 215 mm, 360 mm e 530 mm). Com o incremento da tensão normal aplicada, esta análise revelou a existência de comportamentos bastante distintos para cada tipo de material ensaiado. 4.8.3.1 Ensaios com Areia Para a areia verifica-se um aumento do alongamento da geogrelha com o incremento de tensão confinante, e, para cada tensão aplicada, observa-se um aumento do alongamento à medida que a força de arrancamento aproxima-se da força de ruptura (100%). Tal resultado
- 149. 149 está de acordo com os resultados obtidos por Moraci e Recalcati (2006) ao ensaiar geogrelhas extensíveis. As curvas de deslocamento da geogrelha na areia são apresentadas na Figura 70. 25 20 Deslocamento (mm) 100% F. Max 15 90% F. Max 80% F. Max 70% F. Max 10 60% F. Max 50% F. Max 5 0 0 100 200 300 400 500 600 Posição (mm) Figura 70a. Curva Deslocamento X Ponto de leitura na areia, para tensão de 25 kPa. 30 25 Deslocamento (mm) 20 100% F. Max 90% F. Max 80% F. Max 15 70% F. Max 60% F. Max 10 50% F. Max 5 0 0 100 200 300 400 500 600 Posição (mm) Figura 70b. Curva Deslocamento X Ponto de Leitura na areia, para tensão de 50 kPa.
- 150. 150 35 30 Deslocamento (mm) 25 100% F. Max 90% F. Max 20 80% F. Max 70% F. Max 15 60% F. Max 50% F. Max 10 5 0 0 100 200 300 400 500 600 Posição (mm) Figura 70c. Curva Deslocamento X Ponto de leitura na areia, para tensão de 100 kPa. 4.8.3.2 Ensaios com Solo Para o solo, assim como para a areia, verifica-se um aumento do alongamento da geogrelha com o incremento de tensão confinante, e, para cada tensão aplicada, observa-se um aumento do alongamento à medida que a força de arrancamento aproxima-se da força de ruptura (100%). No entanto verifica-se um alongamento mais acentuado, provavelmente causado pela resistência coesiva conferida pelo o solo. As curvas de deslocamento da geogrelha no solo são apresentadas na Figura 71. 25 20 Deslocamento (mm) 100% F. Max 15 90% F. Max 80% F. Max 70% F. Max 10 60% F. Max 50% F. Max 5 0 0 100 200 300 400 500 600 Posição (mm) Figura 71a. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no solo, para tensão de 25 kPa.
- 151. 151 25 20 Deslocamento (mm) 100% F. Max 15 90% F. Max 80% F. Max 70% F. Max 10 60% F. Max 50% F. Max 5 0 0 100 200 300 400 500 600 Posição (mm) Figura 71b. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no solo, para tensão de 50 kPa. 6 5 Deslocamento (mm) 4 100% F. Max 90% F. Max 80% F. Max 3 70% F. Max 60% F. Max 2 50% F. Max 1 0 0 100 200 300 400 500 600 Posição (mm) Figura 71c. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no solo, para tensão de 100 kPa. 4.8.3.3 Ensaios com RCD Para o RCD-R, os resultados apresentados na Figura 72 confirmam claramente a ocorrência de ancoramento da geogrelha. Observando a Figura 72c, verifica-se um estacionamento do ponto de leitura localizado a 360 mm da manga, enquanto há deslocamento no ponto de leitura localizado a 530 mm, apesar de ser mais afastado.
- 152. 152 40 35 30 Deslocamento (mm) 100% F. Max 25 90% F. Max 80% F. Max 20 70% F. Max 60% F. Max 15 50% F. Max 10 5 0 0 100 200 300 400 500 600 Posição (mm) Figura 72a. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no RCD-R, para tensão de 25 kPa. 10 9 8 Deslocamento (mm) 7 100% F. Max 6 90% F. Max 80% F. Max 5 70% F. Max 4 60% F. Max 50% F. Max 3 2 1 0 0 100 200 300 400 500 600 Posição (mm) Figura 72b. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no RCD-R, para tensão de 50 kPa.
- 153. 153 9 8 7 Deslocamento (mm) 6 100% F. Max 90% F. Max 5 80% F. Max 70% F. Max 4 60% F. Max 3 50% F. Max 2 1 0 0 100 200 300 400 500 600 Posição (mm) Figura 72c. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no RCD-R, para tensão de 100 kPa.
- 154. 154
- 155. 155 CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES Diante dos resultados obtidos neste trabalho, é possível delinear as seguintes conclusões: • Os resultados da análise granulométrica revelaram que, para as amostras ensaiadas, o RCD-R pode ser classificado, segundo a ABNT, como um pedregulho arenoso; verificou-se que, para as cinco amostras ensaiadas, houve uma pequena variação da granulometria, o que sugere que o material foi submetido a um processo de produção padronizado; observou-se que os coeficientes de variação do percentual passante nas peneiras aumentaram com a diminuição das aberturas da peneiras; • A análise visual do RCD-R revelou que, para as frações ensaiadas, suas partículas são compostas predominantemente por material cimentício, de formas e rugosidades variadas; • Os ensaios de limites de consistência revelaram que todas as amostras ensaiadas possuem o comportamento não-plástico; tal resultado pode ser justificado pela análise microscópica realizada com a fração passante na peneira de abertura 0,075 mm, onde se verificou a presença de partículas de material cimentício; • Observou-se que o ensaio de compactação não provocou significativamente a quebra de partículas; resultado confirmado pela análise das curvas granulométricas das amostras de RCD-R; • O ensaio de CBR revelou que o RCD-R ensaiado trata-se de um material não expansivo, com o valor de CBR igual a 60% para a umidade ótima de 9%; • Os ensaios de pH em água destilada forneceram um valor médio de 9,1, com um coeficiente de variação de apenas 4,3 %; tal valor encontra-se bastante próximo do
- 156. 156 valor máximo de pH recomendado para utilização de geossintéticos produzidos com poliéster; • No ensaio de cisalhamento, verificou-se que o RCD-R05 apresentou ruptura do tipo plástica, e um valor de φ = 41°, o que justificaria a utilização a sua utilização em várias aplicações geotécnicas; • O resultado dos ensaios de arrancamento de geogrelha revelou, por meio da análise dos coeficientes de interface, que o RCD-R apresentou resultado superior ao obtidos pelo material recomendado pela FHWA para execução de obras públicas nos EUA; • As curvas de Deslocamento X Posição do ponto de leitura evidenciaram a ocorrência do fenômeno de ancoramento dos elementos transversais do RCD-R; o que resultou na concentração de tensões em determinadas regiões da geogrelha e, conseqüentemente, na precoce ruptura da geogrelha com um valor de força aplicada bastante inferior ao valor divulgado pelo fabricante. Conclui-se, portanto, que o RCD-R apresentou baixos coeficientes de variação nos resultados de caracterização, excelentes propriedades de resistência, e comportamento mecânico que justificam a sua utilização na aplicação proposta.
- 157. 157 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AFFONSO, F.J.A. Caracterização de agregados reciclados de resíduos de construção e demolição para uso em camadas drenantes de aterros de resíduos sólidos. Rio de Janeiro, 2005. Dissertação (Mestrado). COPPE – UFRJ. ALBERTSON, A.C.; BÄNHIDI, Z.G. Appl. Poly. Sci., 25 (1980), 1655-70. ALFARO, M.C.; HAYASHI, S.; MIURA, N.; WATANABE, K. Pullout interaction mechanism of geogrid strip reinforcement. (1995). Geosynthetics International, Vol.2, No 4. p. 679-698. AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIAL (2002). Standard specification of highway bridges. 17th ed. Washington. ANDERSON, P.L.; JAILLOUX, J.M.; WHITE, D.F. (1992). Testing durability of polyester to be used in earth-reinforced structures. Earth Reinforcement Practice. p. 9-12. ANGULO, S.C. et al. Metodologia de caracterização de resíduos de construção e demolição. In: VI Seminário de Desenvolvimento Sustentável e a Reciclagem na Construção Civil, 2003, São Paulo. Anais. IBRACON CT-206/IPEN. Em CD-Rom. ANGULO, S.C. Variabilidade de agregados graúdos de resíduos de construção e demolição reciclados. São Paulo, 2000. 155p. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Construção Civil. ANGULO, S.C.; JOHN, V.M. Normalização dos agregados graúdos de resíduos de construção e demolição reciclados para concretos e a variabilidade. In: IX ENTAC - Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Foz do Iguaçu, 2002. ANGULO, S.C.; JOHN, V.M. Variabilidade dos agregados graúdos de resíduos de construção e demolição reciclados. e-Mat – Revista de Ciência e Tecnologia de Materiais de Construção Civil. Vol.1, n.1, p.22-32, Maio 2004.
- 158. 158 ANGULO, S.C.; JOHN, V.M.; ULSEN, C.; KAHN, H. Caracterização de agregados de resíduos de construção e demolição reciclados separados por líquidos densos. In: I Conferência Latino-americana de Construção Sustentável. X Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. São Paulo, 2004. ANGULO, S.C.; JOHN, V.M.; CHAVES, A.P.; ALMEIDA, S.L.M; LIMA, F.M.R.S.; GOMES, P.C. Aperfeiçoamento da reciclagem da fração mineral dos resíduos de construção e demolição – uso em concretos. In: SEMINÁRIO: Uso da Fração Fina da Britagem. Anais: II SUFFIB, Cuchierato et al.(eds), 2005. ANGULO, S.C.; ULSEN, C.; KAHN, H.; JOHN, V.M. Desenvolvimento de novos mercados para reciclagem massiva de RCD. 2002. ANGULO, S.C.; ZORDAN; S.E.; JOHN, V.M. Desenvolvimento sustentável e a reciclagem de resíduos na construção civil. São Paulo. 2001. AOKI, H.; YONEZAWA, T.; TATEYAMA, M.; SHINODA, M.; WATANABE, K. (2005). Development of aseismic abutment with geogrid-reinforced cemente- treated backfills. Proceedings of the 16th ICSMGE, Osaka, p. 659-662. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT NBR 6457: Amostras de solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. 19p. Rio de Janeiro, 1986. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT NBR 6508: Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm – Determinação da massa específica. 8p. Rio de Janeiro,1984. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT NBR 7181: Solo – Análise Granulométrica. 13p. Rio de Janeiro, 1984. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT NBR 7182: Solo – Ensaio de compactação. 10p. Rio de Janeiro, 1986. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT NBR 9895: Solo – Índice de suporte Califórnia. 14p. Rio de Janeiro, 1987. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR10004: Resíduos sólidos - Classificação. 71p. Rio de Janeiro, 2004.
- 159. 159 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR10007: Amostragem de resíduos sólidos. 21p. Rio de Janeiro, 2004. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR12553: Geossintéticos - Terminologia. 3p. Rio de Janeiro, 2003. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR15112: Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transborno e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. 7p. Rio de Janeiro, 2004. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR15113: Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto,implantação e operação. 12p. Rio de Janeiro, 2004. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR15114: Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação. 7p. Rio de Janeiro, 2004. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR15115: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos. 10p. Rio de Janeiro, 2004. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR15116: Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural - Requisitos. 12p. Rio de Janeiro, 2004. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT NBR NM 26: Amostragem de agregados. 10p. Rio de Janeiro, 2001. ASTM D6706-01 – Standart Test Method for Measuring Geosynthetic Pullout Resistence in Soil. AZAMBUJA, E. (1999) A influência do dano mecânico na tensão admissível dos geossintéticos em estruturas de solo reforçado. Proceedings of the 1st South American Symposium on Geosynthetics. Rio de Janeiro, p 157-165. BARROS, M.C. Avaliação de um resíduo da construção civil beneficiado como material alternativo para sistema de cobertura. Rio de Janeiro, 2005. Dissertação (Mestrado). COPPE – UFRJ.
- 160. 160 BENJAMIM, C.V.S. Avaliação experimental de protótipos de estruturas de contenção em solo reforçado com geotêxtil. São Carlos, 2006. 294p Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. BILLING, J.W.; GREENWOOD, J.H.; SMALL, G.D. (1990). Chemical and mechanical durability of geotextiles. Geotextiles, Geomembranes and Related Products. p. 621- 626. BOGADO, J.G.M. Aumento da produtividade e diminuição de desperdícios na construção civil: um estudo de caso – Paraguai. Florianópolis, 1998. 122p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina. BRITISH STANDARD (1995). BS 8006: Code of practice for strengthened/reinforced soils and other fills. BRITO, J.A. Cidade versus entulho. Areia&Brita. Out-dez/1998. p.22-26. BUENO, B.S.; VILAR, O.M. Propriedades, Ensaios e Normas, capítulo 3 do Manual Brasileiro de Geossintéticos / coordenador José Carlos Vertematti, São Paulo, Editora Edgard Blücher, p. 27-62, 2004 BUENO, B.S.; VILAR, O.M.; ZORNBERG, J.G. (2006) Use of tropical soils as backfill of reinforced soil strutures in Brazil. Proceedings of the 8th International Conference on Geosynthetics. Yokohama, p. 1209-1212. CARNEIRO, A.P. Reciclagem de entulho para a produção de materiais de construção – Projeto Entulho Bom – Salvador, EDUFBA; Caixa Econômica Federal, 312p. 2001. CARVALHO, P.A.; PEDROSA, J.A.B.A.; WOLLE, C.M. Aterro reforçado com geotêxteis – uma opção alternativa para engenharia geotécnica. In: Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações. Anais. Porto Alegre, 1986. vol.IV, p.1169-178. CINCOTTO, M.A. Utilização de subprodutos e resíduos na indústria da construção civil. Construção. São Paulo, PINI. N.2480, p.27-30, ago., 1983. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução nº 001. Brasília, 1986.
- 161. 161 CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução nº 307. Brasília, 2002. COOKE, T.F.; REBENFELD, L.(1988). Effect of chemical composition and physical structure of geotextiles on their durability. Geotextiles and Geomembrane, 7, p. 7-22. COSTA, N.A.A. A reciclagem do resíduo de construção e demolição: uma aplicação da análise multivariada. Florianópolis, 2003. 188p. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – UFSC. DORSTHORST, B.J.H.; HENDRIKS, C.F. Re-use of construction and demolition waste in the EU. In: CIB Symposium: Construction and Environment – Theory into practice., São Paulo, 2000. Proceedings. São Paulo, EDUSP, 2000. EUROPEAN COMMISSION (EC). 1999. Construction and demolition waste management practices, and their economic impacts – Final Report. Disponível em: <http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/cdw/c&dw_report.htm>. Acesso em: 28 de Janeiro de 2004. ELIAS, V.; CHRISTOPHER, B.R.; BERG, R.R. (2001). Mechanically Stabilized Earth Walls and Reinforced Soil Slopes Design & Construction Guidelines. U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, Publication No.FHWA-NHI-00-043, 394p. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – UNITED STATES OF AMERICA (EPA). 1995. Plannig for disaster debris. Report n. EPA530-K-95-010. Disponível em <URL: http://www.epa.gov.tribalmsw/thirds/recandd.htm >. Acesso em: 28 de Janeiro de 2007. EVIROMENTAL PROTECTION AGENCY – UNITED STATES OF AMERICA (EPA). Characterization of building – Related construction and demolition debris in United States. Report n. EPA 530-R-98-010. [Monografia on line]. 1998. Disponível em <URL: http://www.epa.gov.tribalmsw/thirds/recandd.htm> Acessado em: 25 de Novembro de 2006. FARRAG, K.; ACAR, Y.B.; JURAN, I. (1993) Pull-out resistance of geogrid reinforcements. Geotextiles and Geomembrane. (12). p.133-159.
- 162. 162 GHIONNA, V.N.; MORACI, N.; RIMOLDI, P.; (2001). Experimental evaluation of the factors affecting pull-out test results on geogrids. Proceedings of International Symposium: Earth Reinforcement. Fukuoka, Kyushu, Japan HANSEN, T.C. Recycled of demolished concrete and mansory. London: Chapman & Hall, 1992. 316p. Part One: Recycled aggregates and recycled aggregate concrete, p. 1-160. (RILEM TC Report 6). HENDRIKS, C.F. The building cycle. Ed. Aeneas. Holanda. 2000. 231p. HAYASHI, S.; SHALIU, J.T.; WATANABE, K. (1997). Effect of restrained dilatancy on pullout resistance of strip reinforcement. Proceedings of Geosynthetics Asia’97, vol. 1, Bangalore, India, pp. 39-44. HUANG, W.L. et al. Recycling of construction and demolition waste via a mechanical sorting process. Resourves, Conservation an recycling. n. 37, p. 23-37. 2002. INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS (IAC) – Métodos de Análise Química Mineralógica e Física de Solos do Instituo Agronômico de Campinas. (1986). Boletim Técnico Nº 106 94p. Campinas-SP. IONESCU, A.; KISS, S.; DRAGAN-BULARD, M.; RADULESCU, D.; KOLOZSKI, E.; PINTEA, H.; CRISAN, R. In: Proceedings 2nd International Conference of Geotextiles, Las Vegas, NV, pp. 547-52. JEWELL, R.A.; WROTH, C.P. (1987). Direct shear tests on reinforced sand. Géotechnique, 37, N° 1, p.53-68. JOHN, V. M. Pesquisa e desenvolvimento de mercado para resíduos. In: Seminário sobre reciclagem e reutilização de resíduos como materiais de construção, 1996, São Paulo. Anais... São Paulo: PCC - USP, Departamento de Engenharia de Construção Civil, 1996. 161 p. p. 21-30. JOHN, V.M. Reciclagem de resíduos na construção civil: Contribuição para metodologia de pesquisa e desenvolvimento. São Paulo, 2000. 113p. Tese (Livre Docência) – Departamento de Engenharia de Construção Civil – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
- 163. 163 JOHN, V.M.; AGOPYAN, J. Seminário de reciclagem de resíduos sólidos domiciliares. São Paulo, 2000. JOHN, V.M.; ANGULO, S.C.; AGOPYAN, V. Sobre a necessidade de metodologia de pesquisa e desenvolvimento para reciclagem. 2003. JOHN, V.M.; ANGULO, S.C. Metodologia para desenvolvimento de reciclagem de resíduos. Coletânea Habitare. Vol.4. Utilização de Resíduos na Construção Habitacional. 2003. JONES, C.J.F.P. (1994). Economic construction of reinforced soil structures. Recent case Histories of Permanent Geosynthetic-Reinforced Retaining Walls. p. 103-116. KOERNER, R. (1999). Designing with geosynthetics. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 4a edição., p.760. KOERNER, G.R.; HSUAN, G.Y.; KOERNER, R.M. (2002) Field measurements of alkalinity (pH) levels behind segmental retaining walls or SRWs. Geosynthetics – 7th ICG. p. 1443-1446. KOERNER, R.M.; LORD JR, A.E.; HSUAN, Y.H. Arrhenius modeling to predict geosynthetics degradation. (1992). Geotextiles and Geomembranes, 11, p. 1151- 183. KOERNER, G.R.; KOERNER, R.M. (1990). The installation survivability of geotextiles and geogrids. Geotextiles, Geomembranes and Related Products. P. 597-607. KOERNER, G.R.; KOERNER, R.M. (2006) Long term monitoring of alkalinity at the geogrid-block interface at a full scale masonry block retaining wall. Proceedings of the 8th International Conference on Geosynthetics. Yokohama, p. 1205-1208. KOO, H.J.; KIM, Y.K. Lifetime prediction of geogrids for reinforcement of embankments and slopes. Polymer Testing, 24, p. 181-188. KULAIF, Y. Análise dos mercados de matérias-primas minerais: estudo de caso da indústria e pedras britadas do estado de SP. São Paulo, 2001. 144 p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
- 164. 164 LEE, K.M.; MANJUNATH, V.R. (2000) Soil-geotxtile interface friction by direct shear tests. Can. Geothech. 37, p. 238-252. LEITE, M.B. Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com agregados reciclados de resíduos de construção e demolição. Porto Alegre, 2001. 266p. Tese (Doutorado) – Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. LEVY, S.M. Pesquisas e normalizações existentes no país e no exterior. Disponível em: http://www.reciclagem.pcc.usp.br Acesso em: 28 ago. 2002. 3p. LEVY, S.M.; HELENE, P.R.L. Durability of concrete produced with mineral waste of civil construction industry. In: CIB SYMPOSIUM IN CONSTRUCTION AND ENVIRONMENT: THEORY INTO PRACTE. São Paulo, Brasil, 2000. Proceedings… [CD-ROM]. LIM, H.T.; CHEW, S.H., KARUNARATNE, G.P.;HE, Z.W.; HO, C.T.; TOH, C.K.; KOH, H.L.; KHOO, T.K.; CHUA, K.C. (2006) Field performance and pullout tests of geosynthetics reinforced soil using residual soil in Singapore. Proceedings of the 8th International Conference on Geosynthetics. Yokohama, p. 1079-1082. LOPES, M.L.; LADEIRA, M.; (1996). Influence of the confinement, soil density and displacement rate on soil-geogrid interaction. Geotextiles and Geomembranes, 14, p. 543-554. MORACI, N; RECALCATI, P. (2006). Factors affecting the pullout behavior of extruded geogrids embedded in compacted granular soil. Geotextiles and Geomembranes, 24, p. 220-242. MOURA, W.A.; GONÇALVES, J.P.; LEITE, R.S. Utilização do resíduo de corte de mármore e granito em argamassa de revestimento e confecção de lajotas para piso. Sitientibus, Feira de Santana, n.26, p.49-61, jan./jun. 2002. MURAKAMI, S.; IZUMI, H.; YASHIRO, T.; SHOICHI, A.; HASEAGAWA, T. Sustainable Building and Policy Design. Tokio: Institute or International Harmonization for Building and Housing; 2002. OCHIAI, O.; OTANI, J.; HAYASHIC, S.; HIRAI, T. (1996). The pullout resistance of geogrids in reinforced soil. Geotextiles and Geomembranes, 14, p. 19-42.
- 165. 165 OLIVEIRA, G.E.; HOLANDA, J.N.F. (2004) Reaproveitamento de resíduo sólido proveniente do setor siderúrgico em cerâmica vermelha. Cerâmica, vol. 50 n° 314, São Paulo OLIVEIRA, M.J.E. Materiais descartados pelas obras de construção civil: Estudo dos resíduos de concreto para reciclagem. Rio Claro, 2002. 191p. Tese (Doutorado) – Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Press Conference on Tsunami RecoveryEffort.NewYork,2005.http://www.un.org/News/briefings/docs/2005/05122 2_Tsunami_PC.doc.htm . Acessado em fevereiro/2006. PALMEIRA, E.M. (1987). The study of soil-reinforcement interation by means of large scale laboratory tests. D. Phil. Thesis, University of Oxford, Oxford, UK, 238pp. PALMEIRA, E.M. (2004). Bearing force mobilisation in pull-out tests on geogrids. Geotextiles and Geomembranes, 22, p. 481-509. PALMEIRA, E.M.; MILLIGAN, G.W.E. (1989) Scale and other factors affecting the results of pull-out tests of geogrids buried in sand. Géotechnique 39, N° 3, p511- 524. PATIAS, J. Avaliação do uso de solos não convencionais em estruturas de solo reforçado. São Carlos, 2005. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo. PICCHI, F.A. Sistema de qualidade: uso em empresas de construção de edifícios. São Paulo, 1993. 462p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. PINTO, T.P. Utilização de resíduos de construção. Estudo do uso em argamassas. São Carlos, 1986. 137p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. PINTO, T.P. Perdas de materiais em processos construtivos tradicionais. São Carlos, 1989. Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de São Carlos – UFSCar . (Datilografado).
- 166. 166 PINTO, T.P. Metodologia para a gestão diferenciada de resíduos sólidos da construção urbana. São Paulo, 1999. 189p. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. PINTO, T.P. Gestão dos resíduos de construção e demolição em áreas urbanas – da ineficácia a um modelo de gestão sustentável. In: Reciclagem de Entulho para a produção. Salvador: Editora da UFBA, 2001. RIBEIRO, W.C. O Brail e a Rio + 10. Revista do Departamento de Geografia USP, 15, p. 37-44. 2002. RODOLFO Jr., A.; NUNES, L.R.; ORMANJI, W. (2002). Tecnologia do PVC – São Paulo – Braskem S.A., 400p. SANTOS, A. Método de intervenção em obras de edificações enfocando o sistema de movimentação e armazenamento de materiais: um estudo de caso. Porto Alegre, 1995. 140p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. SANTOS, E.C.G.; GUSMÃO, A.D.; BARKOKEBAS JR., B.; CARVALHO FILHO, A.C. Caracterização dos resíduos de construção decorrentes de execução de fundações de dois edifícios em Recife. In: 5º Seminário de Fundações Especiais e Geotecnia, 2004, São Paulo, vol. 1, p. 331-343. SCHENINI, P.C.; BAGNATI, A.M.Z.; CARDOSO, A.C.F. Gestão de Resíduos da Construção Civil. In: COBRAC – Congresso Brasileiro de Cadastro Técnico Multifinalitário. Florianópolis, 2004. UFSC. SCHLOSSER, F.; ELIAS, V. Friction in reinforced earth. (1978). Proceedings of the ASCE Symposium on Earth Reinforcement, ASCE, Pittsburgh, USA, April 1978, p. 735-763. SCHNEIDER, D.M. Deposições irregulares de resíduos da construção civil na cidade de São Paulo. São Paulo, 2003. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. SCHUURMANS-STEHMANN, A.M. Environmental life cycle analysis of construction products with and without recycling. In: ENVIRONMENTAL ASPECTS OF CONSTRUCTION WITH WASTE MATERIALS. Great Britain, 1994. Proceedings. Great Britain, 1994. p.709-717.
- 167. 167 SILVANO, R; LOPES, M.L. (2006). Soil/geosynthetic interface characterization – The influence of some aspects of the test procedure. Proceedings of the 8th International Conference on Geosynthetics. Yokohama, p. 1459-1462. SOIBELMAN, L. As perdas de materiais na construção de edifícios: sua incidência e controle. Porto Alegre, 1993. 127p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. SOUZA, P.C.M.; CARNEIRO, F.P.; MONTEIRO, E.C.B.; BARKOKÉBAS JR., B; GUSMÃO, A.D.G. Análise sobre a gestão dos resíduos sólidos de construção e demolição na região metropolitana do Recife. In: Geo-jovem – Congresso de Jovens Geotécnicos. São Carlos, 2004. EESC-USP. TEIXEIRA, S.H.C. Construção e calibração de um equipamento de ensaios de arrancamento de geossintéticos. São Carlos, 1999. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. TEIXEIRA, S.H.C. Estudo da interação solo-geogrelha em testes de arrancamento e a sua aplicação na análise e dimensionamento de maciços reforçados. São Carlos, 2003. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. TEIXEIRA, S.H.C.; BUENO, B.S.; ZORNBERG, J.G. (2007). Pullout resistence of individual longitudinal and transverse geogrid ribs. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ASCE, January, pp. 37-50 TROOST, G.H.; PLOEG, N.A. (1990) Influence of weaving structure and coating on the degree of mechanical damage of reinforcing mats and woven geogrids, caused by differents fills, during installation. Geotextiles, Geomembrane and Related Products. p. 609-614. TUPA, N.; PALMEIRA, E.M. (1995). Estudo de aderência entre geossintéticos e solos finos e entre diferentes tipos de geossintéticos. Solos e Rochas, 18 (1), p. 31-41. UN - United Nations - World Commission on Environment and Development (WCED) (1987). The Report of the Brundtland Commission - Our Common Future. Publicado pela Oxford University Press. Disponível em: http://www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/nachhaltigeentwicklung/brundtland _bericht.pdf?PHPSESSID=4b8923dc4a60aa1ee96e9c7b26c4c359
- 168. 168 UN – United Nations - Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development.(2002). Disponível em: http://www.un.org/esa/sustdev/documents /WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf VIEIRA, G.L. Estudo do processo de corrosão sob a ação de íons cloreto em concretos obtidos a partir de agregados reciclados de resíduos de construção e demolição. Porto Alegre, 2003. 150p. UFRS. WATANABE, K.; TATEYAMA, M.; UCHIMURA, T.; YONEZAWA, T.; AOKI, H. (2006). Pullout tests of geogrid embedded in cement-mixed gravel. Proceedings of the 8th International Conference on Geosynthetics. Yokohama, p. 1467-1470. XAVIER, L.C.; ROCHA, J.C. (2001) Diagnóstico do resíduo da construção civil – início do caminho para uso potencial do entulho. In: IV Seminário De Desenvolvimento Sustentável E A Reciclagem Na Construção Civil, 2., São Paulo, 2001. Anais. São Paulo, Comitê Técnico CT206 Meio Ambiente (IBRACON), p. 44-57. ZORDAN, E.Z. Utilização do entulho como agregado, na confecção do concreto. Campinas, 1997. 140p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas. ZORDAN, E.Z. Metodologia de avaliação do potencial de reciclagem dos resíduos. São Paulo, 2003. 464p. Tese (Doutorado). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.
































![32
Seguindo a recomendação da Comissão Mundial de Meio Ambiente de que fosse
organizada uma reunião internacional para tratar dos problemas ambientais, foi realizada a
Conferência das Nações Unidas para o Meio-Ambiente e Desenvolvimento (mais conhecida
como Rio 92). Segundo Ribeiro (2002), na Rio 92 foi produzida a primeira versão de
convenção sobre acesso e proteção à diversidade biológica.
Porém, dez anos após a Rio 92, em Johannesburgo, a Conferência Mundial para o
Desenvolvimento Sustentável, em seu Plano de Implementação, destacou que “[...] a
biodiversidade está desaparecendo em uma velocidade sem precedentes devido às atividades
humanas” (UN, 2002).
Nesse cenário, dentre as indústrias que degradam o meio ambiente, seja ele urbano ou
natural, a indústria da construção destaca-se por ser responsável por números entre 20 e 50%
do total de recursos naturais consumidos pela sociedade. Porém, não é só como consumidora
de recursos naturais que a construção civil causa impactos ao meio ambiente, ela também é
considerada a principal geradora de resíduos da economia.
Em um levantamento realizado na cidade Santo André - SP, os resíduos de construção e
demolição (RCD) aparecem como 58% do total em massa dos resíduos sólidos urbanos
(RSU), com apenas 33% de participação dos resíduos domiciliares (PINTO, 1999). Existem
ainda estimativas mais abrangentes a respeito da geração de RCD que afirmam que a geração
per capita nacional pode ser estimada em 510 kg/hab/ano, pela mediana de algumas cidades
brasileiras (PINTO, 1999).
Como na maioria das cidades brasileiras não há áreas para a disposição final de RCD
resíduos, aliado ao fato desses serem constituídos por materiais com um alto potencial de
reciclagem (o que evitaria os impactos gerados na exploração de novas jazidas), faz-se
necessário o estudo de soluções para a problemática ambiental, de forma a possibilitar o
cumprimento da legislação vigente.](https://image.slidesharecdn.com/aplicaoderesduosdeconstruoedemoliorecicladosrcd-remestruturasdesoloreforado-120811063400-phpapp01/85/Aplicacao-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-reciclados-rcd-r-em-estruturas-de-solo-reforcado-32-320.jpg)



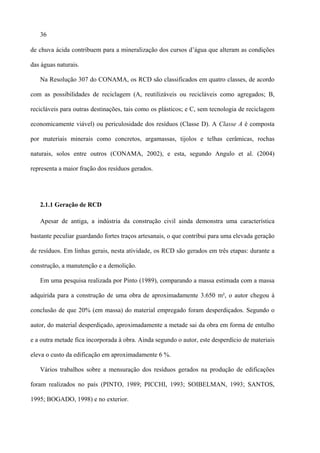

















![54
aplicação de análise discriminante, como da análise de clustrers, permitiram vislumbrar o
cenário em que se encontram as cidades brasileiras diante de uma futura implantação de
programas de reciclagem de RCD. Como lembra a autora, a possibilidade de ter esse cenário
permitirá às prefeituras, empresas e órgãos ambientais direcionarem de forma mais adequada
na busca de soluções para o problema dos RCD.
Tabela 4 – Porcentagem de RCD reutilizado ou reciclado nos países da União Européia (EC, 1999).
Porcentagem reutilizada
País
ou reciclada [%]
Holanda 90
Bélgica 87
Dinamarca 81
Finlândia 45
Reino Unido 45
Áustria 41
Suécia 21
Alemanha 17
França 15
Itália 9
Espanha <5
Grécia <5
Irlanda <5
Portugal <5
Luxemburgo Não Disponível](https://image.slidesharecdn.com/aplicaoderesduosdeconstruoedemoliorecicladosrcd-remestruturasdesoloreforado-120811063400-phpapp01/85/Aplicacao-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-reciclados-rcd-r-em-estruturas-de-solo-reforcado-54-320.jpg)












![67
2.2.6 Aplicação dos RCD-R
A aplicação de RCD-R como base de pavimentação é caracterizada por ser uma
alternativa tecnologicamente consolidada. Porém dados nacionais demonstram que o setor de
pavimentação sozinho seria incapaz de consumir integralmente o RCD-R produzido
(ANGULO et al., 2002; PINTO, 1999).
Por outro lado, a ênfase dada à reciclagem de RCD para produção de agregados para a
fabricação de concreto não parece ser a mais adequada à realidade nacional, principalmente se
adotados os critérios semelhantes aos propostos na normalização internacional (ANGULO &
JOHN, 2002) e considerando os processos de produção de agregados utilizados nas centrais
de reciclagem brasileiras.
Verifica-se na literatura, apesar da grande quantidade de finos gerados nos processos de
beneficiamento dos RCD, um destaque para a investigação do material graúdo através das
suas propriedades para o uso como agregado. Esquece-se, no entanto, do potencial da fração
fina para utilização em aplicações onde as exigências com relação aos materiais não são muito
rígidas, tais como as exigências para os materiais de aterro.
Uma primeira análise da aplicação de RCD-R em estruturas de contenção foi realizada por
Lima (1999) baseando-se na possibilidade dos resíduos apresentarem resistência e dimensões
necessárias para aplicação em rip-rap e gabião. Segundo o autor, para que o seu uso seja
implementado, pesquisas e aplicações-piloto devem ser realizadas tendo em vista as sérias
conseqüências que seriam geradas em eventuais falhas das construções.
Atualmente, diversas universidades e centros de pesquisa têm realizado trabalhos
buscando a utilização de RCD na fabricação de concreto e em pavimentação. Entretanto,
apesar das importantes contribuições produzidas em tais pesquisas, deve-se atentar para o um
ponto “chave”: o fato de que os resíduos “[...] resultantes da preparação e escavação de
terrenos [...]” também são definidos como RCD, segundo a Resolução 307 do Conselho](https://image.slidesharecdn.com/aplicaoderesduosdeconstruoedemoliorecicladosrcd-remestruturasdesoloreforado-120811063400-phpapp01/85/Aplicacao-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-reciclados-rcd-r-em-estruturas-de-solo-reforcado-67-320.jpg)
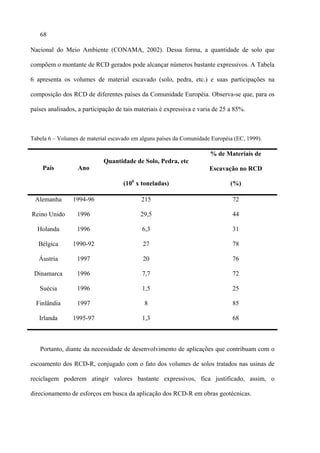




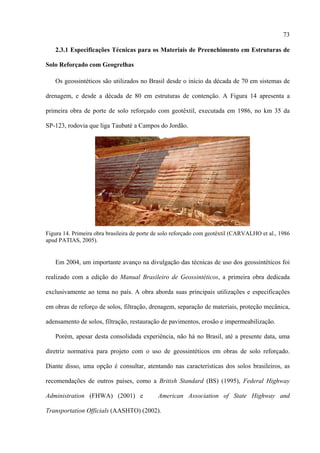






















































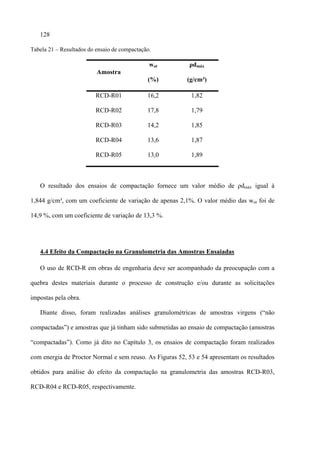
































![161
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução nº 307.
Brasília, 2002.
COOKE, T.F.; REBENFELD, L.(1988). Effect of chemical composition and physical
structure of geotextiles on their durability. Geotextiles and Geomembrane, 7, p.
7-22.
COSTA, N.A.A. A reciclagem do resíduo de construção e demolição: uma aplicação
da análise multivariada. Florianópolis, 2003. 188p. Tese (Doutorado). Programa
de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – UFSC.
DORSTHORST, B.J.H.; HENDRIKS, C.F. Re-use of construction and demolition
waste in the EU. In: CIB Symposium: Construction and Environment – Theory into
practice., São Paulo, 2000. Proceedings. São Paulo, EDUSP, 2000.
EUROPEAN COMMISSION (EC). 1999. Construction and demolition waste
management practices, and their economic impacts – Final Report. Disponível
em: <http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/cdw/c&dw_report.htm>.
Acesso em: 28 de Janeiro de 2004.
ELIAS, V.; CHRISTOPHER, B.R.; BERG, R.R. (2001). Mechanically Stabilized Earth
Walls and Reinforced Soil Slopes Design & Construction Guidelines. U.S.
Department of Transportation, Federal Highway Administration, Publication
No.FHWA-NHI-00-043, 394p.
ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – UNITED STATES OF AMERICA
(EPA). 1995. Plannig for disaster debris. Report n. EPA530-K-95-010. Disponível
em <URL: http://www.epa.gov.tribalmsw/thirds/recandd.htm >. Acesso em: 28 de
Janeiro de 2007.
EVIROMENTAL PROTECTION AGENCY – UNITED STATES OF AMERICA (EPA).
Characterization of building – Related construction and demolition debris in
United States. Report n. EPA 530-R-98-010. [Monografia on line]. 1998.
Disponível em <URL: http://www.epa.gov.tribalmsw/thirds/recandd.htm> Acessado
em: 25 de Novembro de 2006.
FARRAG, K.; ACAR, Y.B.; JURAN, I. (1993) Pull-out resistance of geogrid
reinforcements. Geotextiles and Geomembrane. (12). p.133-159.](https://image.slidesharecdn.com/aplicaoderesduosdeconstruoedemoliorecicladosrcd-remestruturasdesoloreforado-120811063400-phpapp01/85/Aplicacao-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-reciclados-rcd-r-em-estruturas-de-solo-reforcado-161-320.jpg)
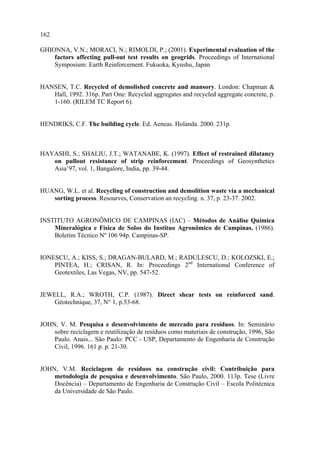

![164
LEE, K.M.; MANJUNATH, V.R. (2000) Soil-geotxtile interface friction by direct
shear tests. Can. Geothech. 37, p. 238-252.
LEITE, M.B. Avaliação de propriedades mecânicas de concretos produzidos com
agregados reciclados de resíduos de construção e demolição. Porto Alegre, 2001.
266p. Tese (Doutorado) – Departamento de Engenharia Civil da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
LEVY, S.M. Pesquisas e normalizações existentes no país e no exterior. Disponível
em: http://www.reciclagem.pcc.usp.br Acesso em: 28 ago. 2002. 3p.
LEVY, S.M.; HELENE, P.R.L. Durability of concrete produced with mineral waste of
civil construction industry. In: CIB SYMPOSIUM IN CONSTRUCTION AND
ENVIRONMENT: THEORY INTO PRACTE. São Paulo, Brasil, 2000.
Proceedings… [CD-ROM].
LIM, H.T.; CHEW, S.H., KARUNARATNE, G.P.;HE, Z.W.; HO, C.T.; TOH, C.K.;
KOH, H.L.; KHOO, T.K.; CHUA, K.C. (2006) Field performance and pullout
tests of geosynthetics reinforced soil using residual soil in Singapore.
Proceedings of the 8th International Conference on Geosynthetics. Yokohama, p.
1079-1082.
LOPES, M.L.; LADEIRA, M.; (1996). Influence of the confinement, soil density and
displacement rate on soil-geogrid interaction. Geotextiles and Geomembranes,
14, p. 543-554.
MORACI, N; RECALCATI, P. (2006). Factors affecting the pullout behavior of
extruded geogrids embedded in compacted granular soil. Geotextiles and
Geomembranes, 24, p. 220-242.
MOURA, W.A.; GONÇALVES, J.P.; LEITE, R.S. Utilização do resíduo de corte de
mármore e granito em argamassa de revestimento e confecção de lajotas para
piso. Sitientibus, Feira de Santana, n.26, p.49-61, jan./jun. 2002.
MURAKAMI, S.; IZUMI, H.; YASHIRO, T.; SHOICHI, A.; HASEAGAWA, T.
Sustainable Building and Policy Design. Tokio: Institute or International
Harmonization for Building and Housing; 2002.
OCHIAI, O.; OTANI, J.; HAYASHIC, S.; HIRAI, T. (1996). The pullout resistance of
geogrids in reinforced soil. Geotextiles and Geomembranes, 14, p. 19-42.](https://image.slidesharecdn.com/aplicaoderesduosdeconstruoedemoliorecicladosrcd-remestruturasdesoloreforado-120811063400-phpapp01/85/Aplicacao-de-residuos-de-construcao-e-demolicao-reciclados-rcd-r-em-estruturas-de-solo-reforcado-164-320.jpg)